Questões que não serão resolvidas no Maracanã
nem em La Bombonera
ÁLVARO KASSAB
 Tudo (re)começou no último dia 2 com a manchete do Clarín, um dos dois maiores jornais argentinos. Ressoando o clima reinante na Casa Rosada, sede do governo do país vizinho, o jornal revelou que “era tensa outra vez a relação com o Brasil”. Embora o “outra vez” embutido na frase já dissesse tudo, o subtítulo avançava em tom intranqüilizador: eram grandes as chances de o governo argentino “endurecer” sua posição. O alvo era a política externa brasileira. Foi o que bastou para que o assunto fosse explorado à exaustão pela imprensa dos dois lados. Seguiu-se o roteiro de sempre: destemperos patrióticos, desmentidos (e estocadas) das respectivas chancelarias, além de metáforas que faziam o tema migrar sem cerimônia para a esfera futebolística.
Tudo (re)começou no último dia 2 com a manchete do Clarín, um dos dois maiores jornais argentinos. Ressoando o clima reinante na Casa Rosada, sede do governo do país vizinho, o jornal revelou que “era tensa outra vez a relação com o Brasil”. Embora o “outra vez” embutido na frase já dissesse tudo, o subtítulo avançava em tom intranqüilizador: eram grandes as chances de o governo argentino “endurecer” sua posição. O alvo era a política externa brasileira. Foi o que bastou para que o assunto fosse explorado à exaustão pela imprensa dos dois lados. Seguiu-se o roteiro de sempre: destemperos patrióticos, desmentidos (e estocadas) das respectivas chancelarias, além de metáforas que faziam o tema migrar sem cerimônia para a esfera futebolística.
O próprio presidente brasileiro embarcou na terminologia: “Se tem uma coisa que está meio nervosa entre Brasil e Argentina é apenas o meu Corinthians, o resto está tudo tranqüilo”, disse Lula referindo-se à frustrada experiência de seu clube de coração com o treinador argentino Daniel Passarela. E isto num terreno já chamuscado pela prisão de um atleta do Quilmes de Buenos Aires, duas semanas antes, o zagueiro Desábato, durante uma partida com o São Paulo pela Copa Libertadores da América – o zagueiro teria usado termos racistas contra o brasileiro Grafite. No auge da guerrilha verbal da última semana, foi preciso o ministro Celso Amorim, das Relações Exteriores, entrar em campo e lembrar que as diferenças Brasil-Argentina não serão resolvidas no Maracanã nem em La Bombonera, mas no tabuleiro da negociação política.
Contudo o próprio Itamaraty, sempre tão cauteloso nesses casos, avaliou como uma “canelada” de Kirchner o fato de o presidente argentino ter abandonado antes do previsto, para espanto de seus pares, a Cúpula América do Sul-Países Árabes realizada em Brasília na semana passada. As coisas do futebol irrompiam também em análises sérias. Para alguns comentaristas, o presidente argentino estaria “jogando para a torcida”. Eles avaliam que as críticas de Kirchner, comumente vocalizadas por seu ministro das Relações Exteriores, Rafael Bielsa (irmão do ex-treinador da seleção argentina), têm como endereço as eleições legislativas de outubro e a disputa pela liderança peronista. Nos dois casos, o oponente é o ex-presidente Eduardo Duhalde, que apóia muitas das iniciativas do governo brasileiro, inclusive a criação da Comunidade Sul-Americana de Nações.
A maioria dos analistas, porém, recorre ao atacado para explicar as razões da tensão: por levar hoje vantagem em quase todos os indicadores – de econômicos a demográficos –, o Brasil assumiu de vez a condição de líder sul-americano, para irritação de líderes portenhos. Esse protagonismo seria, na opinião de cientistas políticos experimentados, um perigoso avanço de sinal que colocaria em risco parcerias estratégicas para os dois países – Mercosul, para ficar num exemplo. O termo “protagonismo” nunca foi tão usado pelos jornais como nas duas últimas semanas. A assimetria econômica e a “liderança natural” do Brasil, na avaliação desses analistas, seriam ingredientes que exporiam ainda mais as feridas de um país – a Argentina – cuja população, acostumada a patamares “europeus” de qualidade de vida, experimentou nos últimos anos um doloroso processo de declínio.
Todas essas questões são analisadas, na matéria que segue, por três especialistas: o professor, historiador e cientista político Boris Fausto, que acaba de lançar o livro Brasil e Argentina – Um ensaio de história comparada (1850-2002), em co-autoria com o professor argentino Fernando Devoto; Geraldo Cavagnari, pesquisador do Núcleo de Estudos Estratégicos (NEE) da Unicamp e coronel da reserva; e o economista Mariano Laplane, professor do Instituto de Economia (IE) da Unicamp. Argentino radicado há muito no Brasil, Laplane aponta o cerne da questão: “O que nos separa, além do futebol, é um desconhecimento mútuo exagerado. A ausência de um conhecimento mais profundo alimenta estereótipos e rivalidades...Os dois países podem e devem ser protagonistas; é preciso apenas combinar o jogo. Não se trata de uma final de Copa do Mundo...”.
Jornal da Unicamp – Como o senhor analisa, sob a perspectiva histórica, a rivalidade entre Brasil e Argentina? Continua válida a máxima de Saenz Peña que diz que, argentinos e brasileiros, “tudo nos une, nada nos separa”?
Boris Fausto – Essa rivalidade existe desde os tempos coloniais, desde a questão da ocupação das fronteiras da Colônia portuguesa. A área, do ponto de vista geopolítico, sempre foi de muito atrito, antes que o Brasil fosse independente e antes mesmo que a Argentina fosse formada. É claro que a rivalidade tomou outras formas depois da Independência.
Geraldo Cavagnari – A rivalidade entre Brasil e Argentina vem desde as lutas no Prata. Teve alguns momentos exacerbados, como na campanha da Cisplatina, durante a ditadura de Rosas, após a Guerra do Paraguai e como na primeira década do século passado. A Argentina sempre alimentou a possibilidade de uma solução militar para o seu conflito com o Brasil. Mas jamais chegou a alcançar o nível desejável de capacidade estratégica para enfrentar o Império do Brasil. Nem mesmo durante a sua fase de prosperidade teve condições para enfrentar a República brasileira. A máxima de Saenz Peña – “tudo nos une, nada nos separa” – continua sendo apenas um recurso de retórica. Nada mais que isso.
Mariano Laplane – Brasil e Argentina são países muito jovens, ainda em construção. O que nos une são os desafios comuns. Ambos os países pretendem aprofundar seu desenvolvimento econômico, político e social, reduzir as desigualdades e a injustiça, fortalecer as instituições democráticas, reduzir a violência etc. Essas são demandas muito fortes da população brasileira e argentina. É claro que cada país carrega sua própria história de sucessos e fracassos nessa caminhada. Os tempos e as formas de enfrentar os problemas são diferentes, mas nada indica que não possamos andar juntos.
O que nos separa, além do futebol, é um desconhecimento mútuo exagerado. A ausência de um conhecimento mais profundo alimenta estereótipos e rivalidades. Brasileiros e argentinos que se conhecem bem, percebem fortes semelhanças que escapam aos outros e acabam perdendo o medo das diferenças.
JU – Em que medida a democratização mudou as relações entre os dois países?
Boris Fausto – Evidentemente, a democratização não resolve os problemas, que são muitos e independem dos respectivos regimes. Mas a democracia tende a ajudar a aproximação e o entendimento. Os regimes democráticos são mais transparentes, a opinião pública pesa, e o governo, bem ou mal, tem de prestar contas. Existem responsabilidades e afinidades em jogo, no sentido de preservar um equilíbrio democrático. Nós tivemos situações muito difíceis com regimes autoritários, aqui e lá. Ao mesmo tempo em que houve afinidades, aliás tenebrosas – Operação Condor e outros fatos decorrentes da repressão –, houve muita rivalidade no plano econômico e no plano da infra-estrutura, como por exemplo no caso de Itaipu.
Geraldo Cavagnari – A democracia concorreu para mudar tais relações na medida em que a Argentina e o Brasil deram respostas concretas aos temas mais substantivos da agenda comum. Foram respostas que levaram ao abandono da hipótese de guerra entre os dois países, aos acordos sobre energia nuclear para fins pacíficos, à cooperação militar e à criação do Mercosul. Essas iniciativas se consumaram porque foram legitimadas pela própria democracia.
Mariano Laplane – A democratização, nos anos 80, provocou uma mudança profunda nas relações entre os dois países. Os regimes militares mantinham uma relação de cooperação estreita no combate aos respectivos inimigos internos, nos moldes da Doutrina da Segurança Nacional. No entanto, a cumplicidade na implementação do Plano Condor tinha como contrapartida a disputa no plano geopolítico. Essa rivalidade materializava-se, inclusive, em programas nacionais para o desenvolvimento de armamento nuclear. Os presidentes Sarney e Alfonsín entenderam corretamente que a transformação da rivalidade em cooperação fortaleceria as duas jovens democracias e permitiria que recursos escassos fossem canalizados para projetos de desenvolvimento econômico e social. O primeiro acordo assinado foi o de cooperação tecnológica. Era um momento de muita esperança em ambos os países, de muita confiança na capacidade de realizar alguns dos sonhos que alimentaram a luta pelo retorno das respectivas democracias.
JU – Essas diferenças são naturais ou foram agudizadas pela assimetria econômica atual?
Boris Fausto – As diferenças são naturais no sentido de que são países que buscaram e buscam a hegemonia regional e têm aspirações que, sob certos aspectos, são comuns mas sob outros, divergentes. Entretanto, as assimetrias econômicas sem dúvida nenhuma incentivam as divergências.
Mariano Laplane – Diferenças e assimetrias entre os dois países sempre houve. O problema é que nos dois países muitos sonhos naufragaram nos anos 90. As assimetrias aumentaram no interior de cada país. Os Estados Nacionais perderam capacidade de planejar e implementar políticas para reduzir as assimetrias domésticas. A ditadura das restrições monetárias e fiscais impõe limites muito estreitos ao crescimento. Nos dois países percebe-se que o crescimento tem sido e poderá vir a ser inferior ao necessário. Esta é a verdadeira razão da agudização das tensões, no plano econômico. As negociações entre os dois países avançaram mais nos curtos períodos de crescimento em ambos os lados da fronteira.
JU – É justa a aspiração do governo brasileiro de colocar o país como “liderança natural” na América do Sul, evocando conceitos militares, geopolíticos e demográficos para reforçar essa posição de “protagonista”, vista como “arrogante” por alguns analistas e diplomatas?
Boris Fausto – O governo brasileiro tem sido inábil no tratamento dessa questão. Quando dois países são muito desiguais, ninguém vai contestar a hegemonia de um com relação ao outro. Mas esse não é o caso das relações Brasil-Argentina. Nos tempos de hoje, o Brasil tende a ser hegemônico. Hegemonia, entretanto, na concepção gramsciana, significa força, mas também consentimento. Acho que o Brasil tem condições econômicas para chegar, sim, a uma posição hegemônica na América do Sul. Mas, para fazer isso, ele precisa ter o consenso dos seus vizinhos, e creio que a retórica tem prejudicado muito esse processo. Trata-se de um processo que precisa sedimentar-se no tempo e com mais cuidado do que se tem feito. Por exemplo, Lula iniciou seu mandato falando que o Brasil deveria alcançar aquela posição a que tem direito natural há 500 anos, que é a posição hegemônica. Isso não ajuda a construir a hegemonia, apenas atrapalha.
Geraldo Cavagnari – Não cabem juízos de valor quando se questiona a liderança do Brasil na América do Sul. A afirmação dessa provável liderança sustenta-se em juízos de realidade. O Brasil, há algum tempo, já detém a primazia na região. Se ele for capaz de desenvolver e manter uma economia sólida e competitiva, poder-se-á visualizá-lo, num futuro próximo, exercendo a liderança regional, apesar das dificuldades que poderão se apresentar. Seu perfil geopolítico e seus ativos econômico e tecnológico justificam pensar o País em tal perspectiva. Não há nada de arrogante evocar conceitos da Realpolitik para justificar a possibilidade de o Brasil vir a exercer a liderança na América do Sul.
Mariano Laplane – Ambos os países mudaram recentemente seu posicionamento em matéria de relações internacionais. Com diferenças de grau, tanto o governo Fernando Henrique como o governo Menem posicionaram-se de maneira bastante passiva em relação ao processo de globalização nos anos 90. Os dois governos adotaram comportamentos típicos de “países pequenos”. Partindo da premissa de que eram incapazes de influenciar o rumo dos acontecimentos internacionais, optaram por comportamentos basicamente adaptativos. Os atuais governos dos dois países adotaram outra atitude, ambos procuram ser protagonistas. A Argentina foi levada a adotar uma atitude firme na negociação da dívida e nas relações com os órgãos multilaterais, como o FMI. O Brasil também mudou sua atitude nas negociações da ALCA e na OMC, abriu novas frentes e procurou aliados no mundo em desenvolvimento.
É natural que nesta etapa, em que ambos os países buscam um maior protagonismo, surjam mais conflitos. Na etapa anterior, os conflitos eram menos visíveis. A busca de protagonismo me parece correta. Em ambos os casos, o protagonismo tem trazido melhores resultados do que a passividade anterior. Os dois países podem e devem ser protagonistas; é preciso apenas combinar o jogo, para que ambos saiam fortalecidos. Não é uma final de Copa do Mundo, onde um ganha e outro perde. Os dois podem ganhar e fica mais fácil ganhar com a ajuda do outro.
A idéia de que o problema consiste em ser mais ou menos “arrogante” está malcolocada. Não é uma questão de etiqueta. O problema é que ambos os governos, por diferentes motivos, enfrentam dificuldades internas. A fragmentação dos interesses em jogo é grande. Há críticas à orientação da política externa no Brasil e na Argentina. Os críticos aproveitam os desencontros entre ambos os governos para atacar as respectivas políticas externas, cobrando mudanças. Nesse contexto, Brasil e Argentina correm o risco de perder de vista os objetivos de longo prazo e priorizar resultados de curto prazo. Acirrar a disputa por cargos nos órgãos internacionais ou acirrar as disputas comerciais podem dar uma falsa imagem de diplomacia forte ou de protagonismo, obstaculizando entretanto a construção de uma aliança sólida a longo prazo.
JU – Além de postular uma vaga no Conselho de Segurança (CS) da ONU, o Brasil assumiu o papel de mediador de crises, como por exemplo a equatoriana, e de coordenador e idealizador da Comunidade Sul-Americana de Nações. Por que o governo argentino rejeita esses projetos?
Boris Fausto – Rejeita porque eles relutam muito em aceitar uma posição hegemônica brasileira, no cenário latino-americano. Essa é uma das razões essenciais da posição da Argentina. Porém, o Brasil tende a ter um papel importante na mediação de crises. É significativo o fato de os Estados Unidos terem plena consciência disso. Acho que eles apóiam o Brasil; acredito que o Lula, no seu pragmatismo, deseja essa cooperação com os Estados Unidos. Tudo isso pode ser muito surpreendente para setores com uma ideologia nitidamente de esquerda, mas essa é a meu ver a realidade dos fatos. Tanto assim que, por exemplo, sem abandonar o presidente Chávez, da Venezuela, em permanente atrito com os Estados Unidos, o governo brasileiro trata de amenizar seu ímpeto. Uma viagem do ministro José Dirceu a Caracas, pouco antes da chegada da Secretária de Estado Condoleeza Rice ao Brasil, ao que tudo indica, tinha esse objetivo, embora ele não tenha obtido sucesso.
Geraldo Cavagnari – Porque o Brasil como novo membro permanente do Conselho de Segurança da ONU passará a ser reconhecido pela comunidade internacional como provável grande potência regional. O papel de mediador de crises, por sua vez, cabe naturalmente ao país que apresenta o perfil de líder – que tem condição de adquirir esse perfil na América do Sul. A Argentina, historicamente, sempre cultivou uma visão conspiratória sobre o Brasil. Embora reconheça a existência de interesses recíprocos, de posições antagônicas e de problemas comuns que exigem cooperação, ela se assusta com a possibilidade de o Brasil vir a consolidar uma posição privilegiada nas relações de força na América do Sul.
Mariano Laplane – Por motivos óbvios, no caso das mediações o governo argentino acha preferível uma ação colegiada, que divida o mérito dos eventuais sucessos entre os vários participantes. No caso da Comunidade Sul-Americana, a Argentina cobra do Brasil um encaminhamento prévio dos problemas do Mercosul.
JU – Alguns analistas atribuem as tensões entre os dois países a um problema cuja origem estaria na política interna argentina, sobretudo na disputa entre o presidente Nestor Kirchner e o ex-presidente Eduardo Duhalde. O senhor concorda?
Boris Fausto – Não se pode negar que isso é uma parte da explicação. Existe um jogo de política externa que faz parte do jogo da política interna. Isto vale para os dois lados. Porém, vale mais para Argentina do que para o Brasil. Essa atitude é uma forma de legitimação do presidente Kirchner. Também integra a personalidade dele, para quem o jogo de cena tem papel importante.
Geraldo Cavagnari – Pode ser, mas não o é suficiente para explicar tais tensões. Essas são produtos do declínio econômico e comercial da Argentina. O sucateamento de sua indústria, a moratória internacional e, recentemente, o calote de 67 bilhões de dólares já são suficientes para estressá-la – para projetar um futuro não muito animador para ela.
Mariano Laplane – Embora os problemas políticos internos são um complicador, tanto no Brasil como na Argentina, não acho que a disputa entre o presidente e o ex-presidente argentino seja neste caso um problema relevante.
JU – Até que ponto injunções econômicas, entre as quais barreiras comerciais e medidas protecionistas, pesaram na última polêmica travada entre os dois países?
Boris Fausto – Acho que pesaram e pesam bastante, mas é preciso considerar que o Brasil suportou saldos negativos na balança comercial por muitos anos, em nome da preservação do Mercosul. A Argentina não quer ou tem dificuldades para aceitar isso. As pressões, seja por parte de setores industriais ou de parte do governo, são maiores, inclusive porque a margem de manobra deles é menor. Creio que existem, aí, alguns problemas de economias que estão num ritmo diferente. O Brasil tem setores muito competitivos; a Argentina já não tem. São problemas que vão ter de ser solucionados, embora não seja simples. Pode-se afirmar que isso ocorreu na União Européia e se resolveu. Mas a União Européia tinha um lastro muito maior. Aqui, falamos de dois países que estão frente a frente. Acho que os problemas vão continuar. Mas, ao mesmo tempo, acredito que eles nunca vão escalar a um nível insuportável. No quadro atual, a criação de uma atmosfera de permanente inimizade no Cone Sul é difícil de ser concebida. Ninguém ou quase ninguém deseja.
Mariano Laplane – Os conflitos comerciais não podem ser subestimados, porque afetam grupos empresariais poderosos que mobilizam seus recursos para influenciar na política exterior de ambos países.
JU – O senhor acredita que a polêmica coloca em risco o Mercosul e a aliança estratégica entre os dois países?
Boris Fausto – Acho que sim. O Mercosul está enfrentando riscos muito grandes e pode ficar em ponto morto, quem sabe para ser ressuscitado mais adiante, em outras condições. Vejo com pessimismo o quadro do Mercosul, embora não acredite em uma confrontação aguda. Há muitos motivos para a rivalidade persistir. Há também, por outro lado, muitas razões para se colocar panos quentes nessa história. No quadro atual de um mundo globalizado, falando-se de dois países democráticos, não há condições de se acirrar excessivamente disputas entre países vizinhos. Não somos Índia e Paquistão.
Geraldo Cavagnari – O Mercosul não se firmou como união aduaneira. Na realidade, é uma zona de livre comércio. Não há dúvida de que o seu futuro está comprometido. Agora, aliança estratégica entre o Brasil e a Argentina foi tencionada, mas jamais se consumou. Dificilmente se consumará num futuro próximo, enquanto os argentinos mantiverem uma visão conspiratória sobre o Brasil.
Mariano Laplane – Não acredito nesse perigo, mas o Mercosul enfrenta outros perigos, de certa forma mais graves. O fato de o Mercosul não ter ultrapassado a etapa da integração comercial, ou seja, de não ter gerado um grau de integração e complementação produtiva mais efetiva entre os países do bloco, capaz de promover o desenvolvimento da região, é uma ameaça séria para sua capacidade de satisfazer as expectativas que criou quando foi lançado. Há também um evidente descompasso entre o avanço da integração econômica e o desenvolvimento da dimensão institucional do Mercosul.
|
BORIS FAUSTO
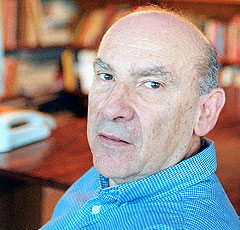 Doutor em História e Ciência Política pela Universidade de São Paulo (USP), Boris Fausto é professor aposentado do Departamento de Ciência Política e membro do Gacint (Grupo de Conjuntura Internacional), da mesma universidade, do qual é presidente do Conselho Acadêmico. Foi pesquisador residente do Wilson Center (Washington, DC, EUA), professor do St. Antony’s College (Oxford, Inglaterra), da Brown University (Providence, RI, EUA), da Universidade Nacional de Mar del Plata (Argentina), sendo atualmente professor do Instituto Universitário Ortega y Gasset de Madri. Dedica-se especialmente à história social e política contemporânea. Foi responsável, juntamente com Sergio Buarque de Holanda, pela organização da História geral da civilização brasileira (Difel, 1963-84, 11 vols.). Escreveu, entre outros livros, A Revolução de 1930 (Companhia das Letras, 1997), e, juntamente com Fernando J. Devoto, Brasil e Argentina – Um ensaio de história comparada (1850-2002) (Editora 34, 2005). Doutor em História e Ciência Política pela Universidade de São Paulo (USP), Boris Fausto é professor aposentado do Departamento de Ciência Política e membro do Gacint (Grupo de Conjuntura Internacional), da mesma universidade, do qual é presidente do Conselho Acadêmico. Foi pesquisador residente do Wilson Center (Washington, DC, EUA), professor do St. Antony’s College (Oxford, Inglaterra), da Brown University (Providence, RI, EUA), da Universidade Nacional de Mar del Plata (Argentina), sendo atualmente professor do Instituto Universitário Ortega y Gasset de Madri. Dedica-se especialmente à história social e política contemporânea. Foi responsável, juntamente com Sergio Buarque de Holanda, pela organização da História geral da civilização brasileira (Difel, 1963-84, 11 vols.). Escreveu, entre outros livros, A Revolução de 1930 (Companhia das Letras, 1997), e, juntamente com Fernando J. Devoto, Brasil e Argentina – Um ensaio de história comparada (1850-2002) (Editora 34, 2005).
|
|
Geraldo Cavagnari
 Doutor em ciências militares, Geraldo Lesbat Cavagnari Filho é fundador e membro do Núcleo de Estudos Estratégicos da Unicamp, do qual foi diretor (1987-1996 e 2001-2003). Introdutor dos estudos estratégico-militares na universidade brasileira, é assessor científico da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (Fapesp), membro do Conselho Fundador do Instituto DNA Brasil, do Conselho Consultivo do Instituto Cidadania e do Inter-University of Seminar on Armed Forces and Society – The University of Chicago (1989-1991). É autor de, entre outras obras, Brasil-Argentina: autonomia estratégica y cooperación militar, O teorema da exclusão e o corolário Nabuco e O argumento do império. Doutor em ciências militares, Geraldo Lesbat Cavagnari Filho é fundador e membro do Núcleo de Estudos Estratégicos da Unicamp, do qual foi diretor (1987-1996 e 2001-2003). Introdutor dos estudos estratégico-militares na universidade brasileira, é assessor científico da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (Fapesp), membro do Conselho Fundador do Instituto DNA Brasil, do Conselho Consultivo do Instituto Cidadania e do Inter-University of Seminar on Armed Forces and Society – The University of Chicago (1989-1991). É autor de, entre outras obras, Brasil-Argentina: autonomia estratégica y cooperación militar, O teorema da exclusão e o corolário Nabuco e O argumento do império.
|
|
Mariano Laplane
 Doutor em Economia (Unicamp, 1992) e pós-doutorado na Universidade de Oxford (2004/05), Mariano Laplane é professor do Instituto de Economia da Unicamp. É pesquisador do Núcleo de Economia Industrial e da Tecnologia (NEIT) do Instituto de Economia da Unicamp e da Rede de Pesquisas Econômicas do Mercosul. É autor de trabalhos publicados no Brasil e no exterior sobre investimento direto estrangeiro e comércio internacional, sobre competitividade internacional e sobre política industrial. Organizou o livro Internacionalização e desenvolvimento da indústria no Brasil (Editora Unesp, 2003). Doutor em Economia (Unicamp, 1992) e pós-doutorado na Universidade de Oxford (2004/05), Mariano Laplane é professor do Instituto de Economia da Unicamp. É pesquisador do Núcleo de Economia Industrial e da Tecnologia (NEIT) do Instituto de Economia da Unicamp e da Rede de Pesquisas Econômicas do Mercosul. É autor de trabalhos publicados no Brasil e no exterior sobre investimento direto estrangeiro e comércio internacional, sobre competitividade internacional e sobre política industrial. Organizou o livro Internacionalização e desenvolvimento da indústria no Brasil (Editora Unesp, 2003).
|





 Tudo (re)começou no último dia 2 com a manchete do Clarín, um dos dois maiores jornais argentinos. Ressoando o clima reinante na Casa Rosada, sede do governo do país vizinho, o jornal revelou que “era tensa outra vez a relação com o Brasil”. Embora o “outra vez” embutido na frase já dissesse tudo, o subtítulo avançava em tom intranqüilizador: eram grandes as chances de o governo argentino “endurecer” sua posição. O alvo era a política externa brasileira. Foi o que bastou para que o assunto fosse explorado à exaustão pela imprensa dos dois lados. Seguiu-se o roteiro de sempre: destemperos patrióticos, desmentidos (e estocadas) das respectivas chancelarias, além de metáforas que faziam o tema migrar sem cerimônia para a esfera futebolística.
Tudo (re)começou no último dia 2 com a manchete do Clarín, um dos dois maiores jornais argentinos. Ressoando o clima reinante na Casa Rosada, sede do governo do país vizinho, o jornal revelou que “era tensa outra vez a relação com o Brasil”. Embora o “outra vez” embutido na frase já dissesse tudo, o subtítulo avançava em tom intranqüilizador: eram grandes as chances de o governo argentino “endurecer” sua posição. O alvo era a política externa brasileira. Foi o que bastou para que o assunto fosse explorado à exaustão pela imprensa dos dois lados. Seguiu-se o roteiro de sempre: destemperos patrióticos, desmentidos (e estocadas) das respectivas chancelarias, além de metáforas que faziam o tema migrar sem cerimônia para a esfera futebolística. 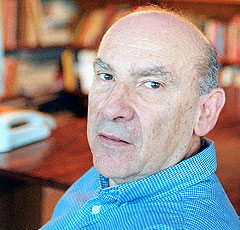 Doutor em História e Ciência Política pela Universidade de São Paulo (USP), Boris Fausto é professor aposentado do Departamento de Ciência Política e membro do Gacint (Grupo de Conjuntura Internacional), da mesma universidade, do qual é presidente do Conselho Acadêmico. Foi pesquisador residente do Wilson Center (Washington, DC, EUA), professor do St. Antony’s College (Oxford, Inglaterra), da Brown University (Providence, RI, EUA), da Universidade Nacional de Mar del Plata (Argentina), sendo atualmente professor do Instituto Universitário Ortega y Gasset de Madri. Dedica-se especialmente à história social e política contemporânea. Foi responsável, juntamente com Sergio Buarque de Holanda, pela organização da História geral da civilização brasileira (Difel, 1963-84, 11 vols.). Escreveu, entre outros livros, A Revolução de 1930 (Companhia das Letras, 1997), e, juntamente com Fernando J. Devoto, Brasil e Argentina – Um ensaio de história comparada (1850-2002) (Editora 34, 2005).
Doutor em História e Ciência Política pela Universidade de São Paulo (USP), Boris Fausto é professor aposentado do Departamento de Ciência Política e membro do Gacint (Grupo de Conjuntura Internacional), da mesma universidade, do qual é presidente do Conselho Acadêmico. Foi pesquisador residente do Wilson Center (Washington, DC, EUA), professor do St. Antony’s College (Oxford, Inglaterra), da Brown University (Providence, RI, EUA), da Universidade Nacional de Mar del Plata (Argentina), sendo atualmente professor do Instituto Universitário Ortega y Gasset de Madri. Dedica-se especialmente à história social e política contemporânea. Foi responsável, juntamente com Sergio Buarque de Holanda, pela organização da História geral da civilização brasileira (Difel, 1963-84, 11 vols.). Escreveu, entre outros livros, A Revolução de 1930 (Companhia das Letras, 1997), e, juntamente com Fernando J. Devoto, Brasil e Argentina – Um ensaio de história comparada (1850-2002) (Editora 34, 2005). Doutor em ciências militares, Geraldo Lesbat Cavagnari Filho é fundador e membro do Núcleo de Estudos Estratégicos da Unicamp, do qual foi diretor (1987-1996 e 2001-2003). Introdutor dos estudos estratégico-militares na universidade brasileira, é assessor científico da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (Fapesp), membro do Conselho Fundador do Instituto DNA Brasil, do Conselho Consultivo do Instituto Cidadania e do Inter-University of Seminar on Armed Forces and Society – The University of Chicago (1989-1991). É autor de, entre outras obras, Brasil-Argentina: autonomia estratégica y cooperación militar, O teorema da exclusão e o corolário Nabuco e O argumento do império.
Doutor em ciências militares, Geraldo Lesbat Cavagnari Filho é fundador e membro do Núcleo de Estudos Estratégicos da Unicamp, do qual foi diretor (1987-1996 e 2001-2003). Introdutor dos estudos estratégico-militares na universidade brasileira, é assessor científico da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (Fapesp), membro do Conselho Fundador do Instituto DNA Brasil, do Conselho Consultivo do Instituto Cidadania e do Inter-University of Seminar on Armed Forces and Society – The University of Chicago (1989-1991). É autor de, entre outras obras, Brasil-Argentina: autonomia estratégica y cooperación militar, O teorema da exclusão e o corolário Nabuco e O argumento do império. Doutor em Economia (Unicamp, 1992) e pós-doutorado na Universidade de Oxford (2004/05), Mariano Laplane é professor do Instituto de Economia da Unicamp. É pesquisador do Núcleo de Economia Industrial e da Tecnologia (NEIT) do Instituto de Economia da Unicamp e da Rede de Pesquisas Econômicas do Mercosul. É autor de trabalhos publicados no Brasil e no exterior sobre investimento direto estrangeiro e comércio internacional, sobre competitividade internacional e sobre política industrial. Organizou o livro Internacionalização e desenvolvimento da indústria no Brasil (Editora Unesp, 2003).
Doutor em Economia (Unicamp, 1992) e pós-doutorado na Universidade de Oxford (2004/05), Mariano Laplane é professor do Instituto de Economia da Unicamp. É pesquisador do Núcleo de Economia Industrial e da Tecnologia (NEIT) do Instituto de Economia da Unicamp e da Rede de Pesquisas Econômicas do Mercosul. É autor de trabalhos publicados no Brasil e no exterior sobre investimento direto estrangeiro e comércio internacional, sobre competitividade internacional e sobre política industrial. Organizou o livro Internacionalização e desenvolvimento da indústria no Brasil (Editora Unesp, 2003).