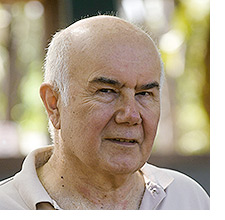No mundo em que estamos, cada vez mais o trabalho exige conhecimentos avançados, de nível superior. A frase, aqui em sua forma dura e radical, é quase uma síntese de centenas de reportagens e estudos difundidos em certa mídia especializada norte-americana – em relatórios de centros de pesquisa, de thinktanks e associações empresariais, de revistas de economia e negócios.
No mundo em que estamos, cada vez mais o trabalho exige conhecimentos avançados, de nível superior. A frase, aqui em sua forma dura e radical, é quase uma síntese de centenas de reportagens e estudos difundidos em certa mídia especializada norte-americana – em relatórios de centros de pesquisa, de thinktanks e associações empresariais, de revistas de economia e negócios.
Mas os estudiosos americanos até hoje brigam entre si, tendo os dados como reféns. Alguns dizem que em poucos anos todo mundo precisará ter no mínimo um curso superior de curta duração – é a mensagem predominante nos influentes estudos de Anthony Carnevale e seu grupo na Georgetown University. Mas a razão para que digam isso é o conhecimento que esses trabalhadores mobilizarão, de fato, no trabalho? Não precisamente. Na verdade, estão medido aquilo que os empregadores exigem para a admissão dos funcionários, algo muito diferente. Há estudos mais delicados que dissecam o trabalho realizado e filtram o saber nele embutido. Eles garantem que no máximo uns 25% dos novos empregos terão essa exigência de super-saber. Dos novos empregos, não do estoque total. Esse é o balanço que fazem Norton W. Grubb e Marvin Lazerson - The education gospel: the economic power ofschooling (Harvard University Press, 2004).
Um ainda mais instigante resultado aparece nas pesquisas sobre uso de determinados conhecimentos (álgebra e ciência) pelos trabalhadores norte-americanos – o Survey of Workplace Skills, Technology, and Management Practices (STAMP), registrado em vários relatórios de Michael Handel. Um outro especialista desse campo, Robert Lerman resume algumas dessas conclusões de modo cru e, quem sabe, cruel:
“Quase todos os trabalhadores usam alguma matemática e 69% usam frações, mas menos de um em quatro usa algo mais avançado do que isso. Somente 19% usam as habilidades desenvolvidas em Álgebra I e só 9% usam Álgebra II.
Mesmo entre trabalhadores White-collar superiores, profissionais e gerentes, o uso de matemática escolar (média e alta) é contundentemente baixo. Só 14% desses profissionais ou técnicos relatam usar Álgebra II e apenas 22% reportam estatística” [Robert I. Lerman, Robert I. (2012) : Can the United States Expand Apprenticeship? Disponível em https://www.econstor.eu/handle/10419/91788
Álgebra I inclui tópicos como razões, expoentes, raiz quadrada, equações de primeiro grau. Álgebra II inclui logaritmos, equações de segundo grau, sistemas de equações, progressões, trigonometria.
Trabalhadores manuais de nível mais elevado utilizam Álgebra I (36%) e geometria e/ou trigonometria (29%). Esses trabalhadores também precisam interpretar representações visuais como mapas, diagramas, plantas, etc. (82% e 62%, respectivamente). Algumas vezes precisam elaborar materiais como esses. Desnecessário dizer que tais resultados colocam em cheque vários pressupostos quanto aos conteúdos “superiores” da educação – se a encaramos, estritamente, como preparação para o trabalho. Esses tópicos de álgebra, por exemplo, constam no programa de ensino médio brasileiro.
Esse debate – que envolve acadêmicos, instituições de governo (como o Departamento de Trabalho) e associações empresariais – ainda se desdobra em polêmicas, não apenas porque o problema é tecnicamente complexo, mas, também, porque implica um sem-número de interesses. Tenho estudado esse debate e pretendo trazê-lo a público em breve. Alguns dos seus resultados colaterais têm aparecido nesta coluna do Jornal da Unicamp. Mas aqui peço licença ao leitor para uma digressão puramente pessoal – e até mesmo nostálgica. Uma observação participante retrospectiva, digamos.
Na década de 1970, trabalhei uns 6 ou 7 anos treinando trabalhadores industriais. Eu mesmo tinha tido esse treinamento, era desenhista-projetista de máquinas e, adicionalmente, tinha tido aulas sobre instalações elétricas industriais, aprendendo o modo como eram conectadas as velhas chaves eletromagnéticas que ligavam e coordenavam tornos, fresas, prensas e furadeiras. Desnecessário dizer que tudo isso hoje é quase antiguidade – não apenas as máquinas, mas até mesmo minha velha profissão, transformada pelos softwares de CAD-CAM, pelos robôs e pelos chips das máquinas-ferramentas de controle numérico.
Meus estudantes eram operários de diferentes áreas e níveis – torneiros, fresadores, ajustadores, eletricistas, mecânicos, montadores de linha. Também formei várias dezenas de desenhistas, estes, preferencialmente, filhos dos operários, já mais escolarizados. Com "escolarizados" quero dizer que tinham completado ou estavam completando o antigo “ginásio”, isto é, o que hoje se chama de “fundamental II”. E o que pude perceber é algo banal, mas relevante: como se pode em pouco tempo e com recursos razoavelmente simples transformar pessoas de baixa escolarização em trabalhadores especializados altamente produtivos e criativos. Utilizávamos, basicamente, os métodos e materiais criados pelo Senai – as “séries metódicas” criadas para cada ofício. Trabalhei, aliás, em 3 ou 4 aplicações de um programa avançado do próprio Senai, que funcionava em fábricas e locais próximos a elas (associações de bairro e paróquias, por exemplo). Já no final dos anos 70, a entidade criou um sofisticado programa de leitura de desenho de máquinas, com filmes transmitidos para tevê, através de um de modulador VHF.
Os estudantes eram treinados para ler e interpretar os desenhos, utilizar os instrumentos de medida (paquímetros e micrometros). Além disso, tinham um treinamento adicional em matemática industrial e rudimentos de tecnologia mecânica. Os estudantes de desenho – em geral, adolescentes ou jovens operários – iam mais longe e apreendiam a calcular e adaptar componentes de equipamentos mecânicos – engrenagens, polias, eixos, pistões, caldeiraria e tubulações.
Essa experiência mostrava, a olho nu, que pelo menos 90% das ocupações de produção podiam ser preenchidas por pessoas com esse grau de escolaridade. Talvez bem mais do que isso. Mas estamos falando de fábricas, trabalhadores manuais, e de um tipo de fábrica, aquela dos anos 1970.
Será que os empregos White-collar, aqueles dos escritórios engravatados, era mais exigente? Era pelo menos mais limpo e menos duro. Os “mensalistas”, como eram chamados pelos peões, entravam às 8 e saíam às 17. Os horistas entravam às 7 e saíam às 17:37. Isso quando não trabalhavam em turnos. E outras vantagens, simbólicas ou materiais, pareciam premiar empregos que demandavam mais tutano. Só que não. Tutano não era o diferencial. E aqui vai mais um depoimento de “observação participante”.
Quanto eu tinha 14 anos tirei minha primeira carteira de trabalho, a chamada “carteira de menor”. Fui trabalhar numa indústria farmacêutica. Chamava-se de aprendiz o trabalhador com menos de 18 anos – para que recebesse apenas meio salário mínimo. Trabalhei primeiro na expedição e almoxarifado – a porta de entrada e saída do setor de produção, da fábrica. Depois fui para o escritório, no que se chamava, na época, de Departamento de Pessoal. Ora, um ano depois, sem grande treino, eu era encarregado de elaborar toda a folha de pagamento dos 500 empregados – tudo à mão, porque não existiam computadores e as calculadoras (mecânicas) eram precárias e racionadas – em geral eram monopólio da contabilidade. Qual o conhecimento necessário para essas rotinas – contratação, demissão, folha de pagamento? Lembro-me até de me terem encomendado a redação de atas de uma inexistente comissão interna de prevenção de acidentes. Essa tarefa, em especial, era essencialmente criativa – rigorosamente, inventar personagens, diálogos, problemas e soluções. O conhecimento de cálculo de um lado era aqui complementado pela redação que se aprendia nas aulas de português do ginásio.
Repetindo a pergunta: que tipo de formação e de conhecimentos eram necessários para tal ocupação? Não mais do que o ensino fundamental (o ginásio). Aliás, a contabilidade, outro departamento “técnico” da empresa, até os anos 1970, pelo menos, era ensinada como uma sequência do ensino fundamental – ou até durante o fundamental II.
Será que de fato isso mudou tanto? O Departamento de Pessoal virou a elegante RI (Relações Industriais) ou RH, quando o “H” de humano foi ironicamente incluído na gestão da tropa. Hoje, para esses campos, as empresas contratam funcionários com bacharelado em Administração, quem sabe com MBA. O que é o “formado” nessas escolas superiores? Qual conhecimento de fato esse profissional mobiliza para cumprir suas funções? E quanto ao trabalho industrial ou ao trabalho White colar menos qualificado – empregados administrativos de nível médio administrativo?
Cada vez mais me parece que estamos aqui, no sul do Equador, reproduzindo a solução americana, adaptada e piorada. Aquilo que os alemães resolvem no ensino médio e profissional – com seu exigente gymnasium e seu sistema de aprendizagem dual (escola-trabalho) – é lançado para o ensino superior, já que não resolvido antes. Muitos dos estudiosos e líderes acadêmicos norte-americanos, ao longo do século XX, testemunhavam que os dois primeiros anos do ensino superior daquele país eram o equivalente do gymnasium alemão ou do liceu francês. O pacote preliminar de “educação geral” das grandes universidades e os community college são quase a confissão institucional desse fato. De qualquer modo, é um caminho que encontraram. O nosso, parece, imita esse trajeto – a um custo maior e com resultados menos certos. Precisa ser assim?