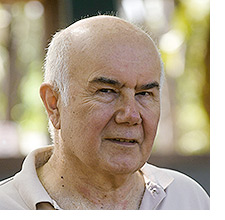A eleição de Trump mostra um avanço conservador, mas não exatamente pelos ganhos eleitorais, que foram relativos – o eleitorado republicano, afinal, não saiu do que era. Mas foi uma bem-sucedida operação em outros indicadores. Primeiro, os republicanos conseguiram aproveitar o desgaste de entusiasmo pelos democratas, notadamente por Hilary. Mais ainda, conseguiram ajudar a produzir defecções de eleitores democratas, utilizando uma variedade de instrumentos. Uma delas foi a chamada campanha indireta e negativa, aquela que demoniza pessoas ou plataformas dos opositores. A legislação americana torna possível que organizações civis recebam doações não identificadas para “educação política”, desde que não seja propaganda explicita de um partido ou candidato. Outra arma importante foi dissuadir o voto pelo cansaço ou pelo veto legal – nos estados, uma verdadeira indústria de cassação de eleitores, alegando combate à fraude, cerceava a inscrição de potenciais inconvenientes (jovens, negros, latinos, por exemplo). Finalmente, havia coisas toscas e banais como tornar o voto pouco confortável. A votação é realizada em dia normal de trabalho. Eleição após eleição, táticas como reduzir os locais ou mudar endereços aumentavam a confusão dos eleitores, criavam filas e perda de tempo.
A eleição de Trump mostra um avanço conservador, mas não exatamente pelos ganhos eleitorais, que foram relativos – o eleitorado republicano, afinal, não saiu do que era. Mas foi uma bem-sucedida operação em outros indicadores. Primeiro, os republicanos conseguiram aproveitar o desgaste de entusiasmo pelos democratas, notadamente por Hilary. Mais ainda, conseguiram ajudar a produzir defecções de eleitores democratas, utilizando uma variedade de instrumentos. Uma delas foi a chamada campanha indireta e negativa, aquela que demoniza pessoas ou plataformas dos opositores. A legislação americana torna possível que organizações civis recebam doações não identificadas para “educação política”, desde que não seja propaganda explicita de um partido ou candidato. Outra arma importante foi dissuadir o voto pelo cansaço ou pelo veto legal – nos estados, uma verdadeira indústria de cassação de eleitores, alegando combate à fraude, cerceava a inscrição de potenciais inconvenientes (jovens, negros, latinos, por exemplo). Finalmente, havia coisas toscas e banais como tornar o voto pouco confortável. A votação é realizada em dia normal de trabalho. Eleição após eleição, táticas como reduzir os locais ou mudar endereços aumentavam a confusão dos eleitores, criavam filas e perda de tempo.
De qualquer modo, tudo isso se soma a uma grande vitória conservadora, em sentido amplo: a produção do “alheamento”, o desinteresse por soluções coletivas para problemas da vida. O “eu desisto”.
Com tudo isso, de uma forma ou de outra, a máquina conservadora, fartamente financiada e muito mais organizada, acua a centro-esquerda, que se acomoda em nichos temáticos cada vez menos capazes de enfrentar o sistema, de oferecer uma “visão de pais” suficientemente forte e clara para virar o jogo.
Como dissemos nos artigos anteriores desta série, a vitória de Trump, em 2016, afirmara-se em um pano de fundo que vinha se desenhando há algum tempo. O crescimento da direita conservadora nos EUA não é um fenômeno recente, mas ficou escancarado com o avanço do Tea Party sobre a própria estrutura do partido republicano. O Tea Party, vitaminado por milionários como os irmãos Koch, parecia uma gang nova, atropelando os “velhos republicanos”. Em 2016, numa nova guinada, Trump se sobrepôs aos dois – aos velhos republicanos (como Bush) e ao Tea Party. Trump apareceu primeiro como o candidato improvável, depois como o presidente improvável. Por fim, tornou-se o presidente imprevisível. Mas a estória da derrota de Hillary começara anos antes.
Lembremos que Obama ganhou somando quase 70 milhões de votos, contra 60 milhões de seu opositor, o senador John McCain. Já naquela ocasião, vários analistas chamaram a atenção para um elo débil de sua coalizão, a chamada white working class, não apenas a do sul do país, infectada por uma conhecida e barulhenta orquestra direitista, mas também para aquela que se situava nos bastiões democratas do meio-oeste e do nordeste, aquilo que em tempos recentes se tornou o melancólico Rust Belt.
Trump foi muitas vezes apontado como estuário quase natural do descontentamento dessa fatia eleitoral, visivelmente açoitada pela política globalista dos democratas. Há aqueles que apontam para a perda de votos dos democratas como fator decisivo, não necessariamente para o crescimento do candidato republicano. A constatação de que a white working class, mais do que aderir à ultradireita, foi muito mais atraída pela abstenção, pelo alheamento e pela negação da política pode ser encontrada em algumas reportagens. Pesquisa recente do Pew Charitable's Trust Economic Mobility Project parece indicá-la como o grupo da sociedade americano mais pessimista e mais alienado. Um resumo do estudo pode ser visto neste link: http://www.theatlantic.com/politics/archive/2011/05.
Talvez fosse melhor utilizar termo menos apassivador do que “alienado”: trata-se de uma decisão de distanciar-se da política. O que pode ser um resultado esperado e cultivado pelos neoconservadores: uma vitória da ideia de que governo deve importar menos na vida das pessoas, a crença de que governo é parte do problema e não da solução, como na famosa frase de Reagan. Nessa linha, mais do que ter o “bom governo”, importa mais ter “menos governo”.
Além de tudo, a campanha de Trump teve uma peculiaridade: foi relativamente barata. Trump arrecadou menos do que Hillary. Aliás, repetia, em escala maior, o que antes se verificara: Obama sempre arrecadara mais do que seus concorrentes republicanos. E de fato, talvez justamente por isso, Obama tinha sido o candidato preferido de Wall Street. Trump gastou pouco, explorando habilmente o fato de que seu estilo agressivo, excêntrico, bem como sua situação de outsider lançariam holofotes em sua direção, sem necessidade de pagar por eles. Ademais, há indicações de que a utilização de técnicas de psicometria e big data tornaram a campanha de Trump mais focada e efetiva, economizando recursos na transmissão de suas mensagens para o eleitorado. Os republicanos dispunham de equipes bem preparadas para aproveitar o redesenho dos distritos, explorando as regras em busca de mais delegados no colégio eleitoral, não a maioria dos votos populares.
Na realidade, gasta-se em campanha política também fora da época das campanhas. E gasta-se também de diferentes maneiras. Os números compilados pelo site www.opensecrets.org mostram um crescimento constante do custo das campanhas eleitorais, nos últimos 60 anos. O elemento mais relevante das tabelas e curvas é o ponto de inflexão dos anos 2000. O salto é simplesmente gigantesco e não apenas para campanhas presidenciais – os gastos com campanhas para congresso (federal e estaduais) e para governos estaduais e locais foram multiplicados por 50. A escalada deu nova e extraordinária importância a grupos de controle sobre a própria escolha de candidatos. Um enorme volume de recursos – inclusive de dark money – é destinado a destruir candidaturas antes que nasçam e a criar, a partir do nada, um conjunto de “celebridades” políticas e “campanhas cívicas” supostamente espontâneas e populares, com ajuda de ação massiva em rádio, TV, outdoors, etc.
Um livro de Jane Mayer conta os caminhos através dos quais o dinheiro de bilionários conservadores modela o ambiente político, construindo uma corrente política “de massas” praticamente a partir do nada: Dark Money: The Hidden History of the Billionaires Behind the Rise of the Radical Right, ed. Doubleday, 2016.
Atribui-se a um antigo presidente a frase: ”The business of America is business”. O negócio das eleições é cada vez mais especulativo, cada vez mais dominado por profissionais e técnicas de alta sofisticação. Cada vez mais, briga de cachorro grande. Ironicamente, aos pequenos resta o consolo de preencher de “diversidades” alguns nichos do sistema, conquistando púlpitos, mas apenas arranhando as grandes decisões, aquelas que modelam o rumo do país. Talvez, afinal, essa seja a grande jogada.