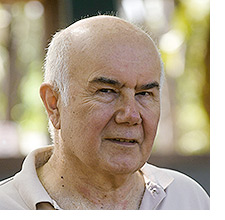Dizia um velho barbudo: a sociedade burguesa é um imenso armazém de mercadorias. E desdobrava o argumento mostrando que ela era, também e por isso, um imenso armazém de contrastes e contradições.
Dizia um velho barbudo: a sociedade burguesa é um imenso armazém de mercadorias. E desdobrava o argumento mostrando que ela era, também e por isso, um imenso armazém de contrastes e contradições.
As sociedades em que mais reina a abundância são, também, repositórios de carências em série. Sem terra, sem teto, sem papéis, sem escola... a lista poderia seguir com muitos outros itens do despojamento, naquilo que restou do proletariado pós-moderno. Durante mais de um século, o capitalismo foi obrigado a conter seus apetites e adquirir alguns bons modos. Mas, nas últimas décadas do século XX, a revanche do capital mostrou os dentes e foi ceifando cada uma dessas conquistas. A tal ponto que alguns dos deserdados são, também, sem pátria, como os palestinos confinados no Oriente Médio, ou africanos ou asiáticos empurrados – pelas guerras ou pela fome – para o que ainda resta da Europa.
Entretanto, um exótico batalhão, pouco notado, ainda que enorme, deveria ser registrado nessa lista. Com alguma licença de linguagem podemos chamá-los de “os sem banco”. Em um mundo em que tudo passa pelo crédito, ser despojado do banco é quase perder a cidadania. Pois é disso que trata o livro de Mehrsa Baradaran - How the other half banks : exclusion, exploitation, and the threat to democracy (Harvard University Press, 2015).
Vivemos de tal modo mergulhado na sociedade mediada pelo sistema bancário e suas manifestações, que tomamos como tácito o acesso a tais instrumentos. E pouco notamos como esse “indispensável” é “naturalmente” parco para tantos outros: o privilégio do acesso ao mundo do crédito e, mesmo, da simples conta corrrente.
O universo examinado por Baradaran é o mais moderno dos modernos países, os Estados Unidos. E aí, paradoxalmente, “quanto menos dinheiro você tem, mais você paga para usá-lo. O setor bancário americano parou de servir aqueles que são pobres demais para ter banco”
Aqueles que não têm o direito de virarem “clientes” do sistema precisam pagar taxas altas a instituições paralelas – os fringe banks – para descontar seus cheques de pagamento, pagar despesas regulares, ou enviar dinheiro para sua esposa ou filhos, em algum lugar distante.
Pior ainda quando precisam dinheiro adiantado para alguma emergência – como uma despesa médica, num país em que não há sistema público de saúde.
O americano médio, diz o autor, tem cerca de US$ 15 mil em débito de cartão, 33 mil em débito escolar e 156 mil em hipoteca de casa. O espalhamento do crédito, ao longo do século XX, levou à criação da chamada “classe média” americana, um rótulo que incluía, até recentemente, os operários mais estáveis e bem pagos da indústria.
Ainda assim, nesse país em que tudo é crédito, uma grande parte das pessoas, no rodapé da ordem social, simplesmente fica fora desse “direito de cidadania”.
Resultado? Uma rede de gambiarrras para esse público, os fringe banks, os payday loans, as pawnhops, etc. Barracos que descontam cheques, fazem penhor de objetos, emprestam a devedores duvidosos (com juros na lua). Figuras que os bancos desdenham ou repelem são os clientes desse mundo de agiotagem.
Um relatório de pesquisa da Pew Charity certa vez mostrou que as payday loans pegam até um terço do cheque de pagamento para fazer o desconto. Você já viu aquele aviso em parede de padaria? “Temos acordo com os bancos – eles não vendem pão e nós não descontamos cheques”. As ruas de cidades americanas – principalmente nos quarteirões pobres – são povoadas por “padarias desse tipo”, para atender aqueles que recebem por dia ou semana e não têm conta em banco. Mesmo na idade de ouro do pós-guerra isso representava mais de 10% da população. Estima-se que tenha chegado perto dos 20% agora. E isso quer dizer um número que cobre entre 30% e 50% da metade mais pobre do país:
“Não estamos falando de um pequeno grupo de pessoas. Aproximadamente 70 milhões de americanos não têm conta bancária ou acesso a serviços financeiros tradicionais”
Em alguns estados americanos, as payday lendings são proibidas. Mas a natureza é sábia – em seu lugar surgem title loans, empresas que emprestam em troca de um “colateral” oferecido como seguro. Por exemplo, o titulo de propriedade do carro do infeliz.
Além de tudo, as emergências, mesmo pequenas, induzem essa multidão de sem banco para o agiota licenciado. Por exemplo: estudos do governo americano estimam que metade das famílias não tem como enfrentar uma conta imprevista de emergência médica, uns 400 dólares, digamos. Esse item tem respondido por um grande número de falências pessoais no país.
Baradaran comenta o estigma que marca esses devedores, cujas dívidas não merecem perdão nem quando rezam o tradicional “Pai Nosso que estais no céu”. Moralistas de rádio e TV volta e meia fazem sermões e programas especiais com aconselhamento paternalista contra o vicio da dívida. Baseiam-se em um pressuposto: se as pessoas se derem conta, vão evitar esse comportamento auto-destrutivo. O problema é que o endividamento, na gigantesca maioria dos casos, não resulta da ignorância, mas da necessidade desses pequenos empréstimos de urgência.
Não por acaso, o tal fringe banking, velho, quase uma descendência da agiotagem medieval, cresceu desmesuradamente depois de 1980:
“Virtualmente não existente neste país 20 anos atrás, este setor se tornou um negócio de 100 bilhões de dólares. Desde a metade dos anos 1990, o número de payday lenders, em todo o país, cresceu uns 10% ao ano. Com cerca de 20 mil lojas, o ramo das payday lenhdings fatura uns 40 bilhões de dólares ao ano. Há mais lojas desse tipo do que da Starbuck e MacDonald somados”
Esse ramo de negócios cobre o vazio dos bancos tradicionais, que rejeitam tais clientes ou os constrangem de tal modo que eles fogem diante de suas portas majestosas. Os bancos podem estar perto dessas pessoas, no espaço – ainda assim estão distantes, de fato.
Pior ainda para aqueles que precisam fazer uma operação simples como remeter pequenas economias a um parente distante – no país ou fora dele. Para esses, surgem casas especiais, com aparência sombria. Com taxas igualmente especiais. E igualmente sombrias.
Os grandes bancos estão mesmo distantes disso? Não é bem assim. De certo modo, o cliente que rejeitam pela porta da frente eles esfolam permitindo o ingresso pela entrada de serviço:
Os principais bancos fornecem crédito para financiar as payday lending. Isso inclui legendas como Wells Fargo, Bank of America, U.S. Bank, JPMorgan, and National City (PNC Financial Services Group
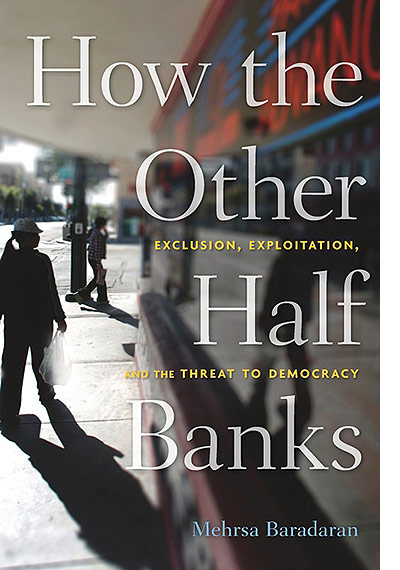 Esta relação ambígua entre os “bancões” do alto e os “banquinhos” da ralé foi tratada também em duas antologias interessantes – e em um relatório de survey.
Esta relação ambígua entre os “bancões” do alto e os “banquinhos” da ralé foi tratada também em duas antologias interessantes – e em um relatório de survey.
A coletânea mais antiga, pioneira nesse achado, foi organizada por Michael Hudson – Merchants of Misery – How Corporate America Profis from Poverty (Common Courage Press). Antecipa o tema da vinculação entre as grandes estrelas de Wall Street e o submundo das finanças da plebe. Na apresentação do volume, Hudson ressalta que a “indústria da pobreza” é largamente financiada pelos gigantes de Wall Street – City Bank, NationsBank, Bank America, American Express, Wester Union. Os grandes nomes ficam atrás do biombo. Na linha de frente, uma rede de barracos destinados aos clientes sem crédito.
A coletânea mais recente foi organizada por Michael S. Barr, No Slack: The Financial Lives of Low-Income Americans (Washington, DC: Brookings Institution, 2012). O relatório de pesquisa, rico em dados de campo, é The Predators' Creditors - How the Biggest Banks are Bankrolling the Payday Loan Industry (setembro de 2010), redigidos por Kevin Connor e Matthew Skomarovsky e patrocinado por duas organizações sem fins lucrativos - Public Accountability Initiative (PAI) e National People's Action (NPA). Está disponível em : https://public-accountability.org/wp.../payday-final-091410.pdf
O relatório mostra a rede de grandes bancos na retaguarda da rede de payday loan companies, uma indústria de “parasitismo legalizado”, segundo editorial do Washington Post. Uma indústria que era limitada há 20 ou 30 anos, mas hoje tem enorme capilaridade. Alguns dos dados que o documento compila merecem destaque.
Existem hoje (2010, data do relatório), mais de 22 mil lojas desse tipo – eram 2 mil em 1995, data do livro de Hudson. Fazem empréstimos “de emergência” que somam uns US$ 30 bilhões por ano. Destinam-se a clientes que têm conta em banco, mas não têm crédito suficiente para emprestar. O valor é adiantado para o solicitante em troca de um cheque pré-datado ou autorização para desconto na sua conta, no futuro. Quanto cobram pelo socorro? Média da taxa de juros: 455%. Valor médio dos empréstimos: 300 ou 400 dólares. Número de empréstimos por indivíduo (no ano): nove.
Embora a rede seja composta de mais de 22 mil pontos de acesso, um reduzido número de 16 maiores empresas concentram metade dessas lojas. E um punhado de bancos as sustentam com crédito – Wells Fargo, Bank of America, JPMorgan, Goldman Sachs.
Como se vê, tinha razão James Baldwin quando dizia que ser pobre custa caro. Mas rende muito para aqueles que não são nada pobres. Os “sem banco”, na verdade, têm, sim, acesso ao banco, mas pela porta dos fundos e a custos bem mais caros do que os clientes da porta principal.