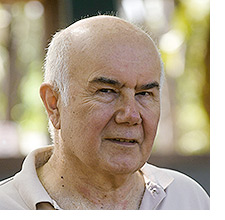Se queremos escolher uma encarnação recente e efervescente do evangelho pedagógico, uma das melhores escolhas seria o secretário de educação de Obama, Arne Duncan. Em 2009, diante do terremoto provocado pela crise financeira, ele declarou, com a solenidade dos profetas do já consumado: "O fato é que estamos não apenas em uma crise econômica; estamos um uma crise educacional”. No ano seguinte, repetiu a arenga, num longo discurso para a Unesco: “A educação é ainda a chave para eliminar desigualdades de gênero, reduzir a pobreza, criar um planeta sustentável e promover a paz. E numa economia do conhecimento, a educação é a nova moeda através da qual as nações sustentam a competitividade econômica e a prosperidade global”.
Se queremos escolher uma encarnação recente e efervescente do evangelho pedagógico, uma das melhores escolhas seria o secretário de educação de Obama, Arne Duncan. Em 2009, diante do terremoto provocado pela crise financeira, ele declarou, com a solenidade dos profetas do já consumado: "O fato é que estamos não apenas em uma crise econômica; estamos um uma crise educacional”. No ano seguinte, repetiu a arenga, num longo discurso para a Unesco: “A educação é ainda a chave para eliminar desigualdades de gênero, reduzir a pobreza, criar um planeta sustentável e promover a paz. E numa economia do conhecimento, a educação é a nova moeda através da qual as nações sustentam a competitividade econômica e a prosperidade global”.
Ah, a economia do conhecimento, ah, a educação como canivete suíço. Ah, a educação como exercício diversionista sempre à mão. Tantas vezes se repete a estória que ainda vira história.
Sim, ela é antiga. Se quisermos apanhar apenas o que se pode chamar de tradição recente, vamos lá para 1964, quando Gary Becker publicava seu livro Human Capital e sustentava que o crescimento econômico passava a depender de conhecimento, informação, ideias, habilidades mentais da força de trabalho. Educação é investimento nesse capital humano. Mais tarde ele buscaria escantear um termo incômodo, que cheirava mal: "Uma economia como a dos Estados Unidos é chamada de economia capitalista, mas o termo mais acurado seria economia de capital humano ou de capital cognitivo”. Para os que desejarem conferir (ou se espantar), as reflexões de Becker sobre o tema estão disponíveis nestes endereços:
www.um.edu.uy/docs/revistafcee/2002/humancapitalBecker.pdf
http://media.hoover.org/documents/0817928928_3.pdf
A fábula da “knowledge economy” faria carreira em certo meio acadêmico bem intencionado mas todo preocupado com a sensibilidade dos capitais. Daniel Bell faria quase um retrato ficcional desse admirável mundo novo, pós-industrial. A crer em sua elegia, os Estados Unidos deixariam de ser a fábrica do mundo, aquela coisa fumacenta e monótona, para virar um grande viveiro de engenheiros, cientistas, artistas. Em suma, um jardim de criadores de idéias [The Coming of the Postindustrial Society, 1973). O famoso guru da administração, Peter Drucker, ia no mesmo rumo, asseverando, até, que a riqueza e o poder estavam migrando dos proprietários e gerentes para os “knowledge workers”.[ Postcapitalist Society ,1993]. O secretário de trabalho de Bill Clinton, Robert Reich, na mesma década, garantia que a desigualdade entre as nações (e das pessoas dentro delas) resultava de diferenças nesse acervo – conhecimento e habilidades. O “investimento em educação” era a chave para reduzir esse fosso.[The Work of Nations: A Blueprint for the Future, 1991).
Isso era o que vertia do lado dos economistas e gurus da futurologia. E os partidos e candidatos? Uma convergência básica. As plataformas dos dois partidos americanos compartilham o mesmo tipo elementar de abordagem. Cada um dos presidentes quer aparecer como o “general da educação”.
Bush (pai) proclama o mandamento do “No child left behind” e acelera a paranoia dos testes padronizados, avaliação dos professores e arrocho pela produtividade. E a escalada tem apoio de pedagogos de prestigio, como Diane Ravitch, que anos mais tarde, faria uma pesada autocrítica e se tornaria a inimiga mais dura e consistente do “testismo”.
Se isso ocorria com os republicanos, os democratas não ficariam atrás. A agenda eleitoral do partido incluiria uma seção prometendo nada menos do que uma "World Class Education for Every Child".
Para não dizer que cabulou essa aula, Obama, no seu famoso livro-programa - The Audacity of Hope: Thoughts on Reclaiming the American Dream – repete o tema e insiste na educação milagrosa, porta de escape para os problemas dos indivíduos e do país: "em uma economia baseada no conhecimento, onde oito em cada nove ocupações que mais crescem nesta década requerem habilidades científicas ou tecnológicas, a maior parte dos trabalhadores precisa de alguma forma de educação superior para preencher os empregos do futuro”
Ao que parece, para todos eles, é irrelevante que tais ‘dados” sejam “ajeitados” e reflitam distorções analíticas bem dirigidas. Analistas mais céticos e menos entusiasmados com o evangelho pedagógico mostram o quanto tais expectativas refletem mais um desejo ou fantasia do que o andar efetivo da carruagem econômica norte-americana. De fato, é o que dizem os estudos com mais base empírica: o número de empregos para operar instrumentos de alta tecnologia vai ser maior do que os empregos que requerem profissionais como cientistas e engenheiros, educados em universidades.
É por essas e outras que voltamos a um tema que temos teclado com insistência nesta coluna do Jornal da Unicamp. A que se deve tal resiliência do evangelho pedagógico, da educação como panaceia indefectível e inarredável? E quais os instrumentos que fazem esse discurso tão penetrante, tão persuasivo?
Para ter pistas que respondam a essa pergunta, talvez ajude lembrar como a educação tem sido “promovida” no discurso público norte-americano. Exemplos não faltam, vamos a um deles.
No final dos anos 1950, como sabemos, os vermelhos mandaram satélites para o espaço. O choque inicial veio com a cadelinha Laika. Depois, com o famoso Iuri Gagarin, primeiro homem no espaço sideral. Choque e ranger de dentes na terra de Tio Sam. Sentimento de derrota e vergonha. O que diziam, então, os lideres políticos da terra de Marlboro? Que isso refletia a decadência das escolas americanas... Choviam estudos e propostas de reforma, com o usual apelo para que a grade de matemática e ciência fosse ampliada. Rigor, padrões, muita ciência, mais álgebra, mais testes. Sai do forno uma nova lei de educação e ela é sintomaticamente denominada National Defense Education Act. A educação é a guerra por outros meios, parece ser a nova paráfrase de von Clausewitz.
Mas... o problema reside nas escolas elementares e médias? É nelas que temos que bater? São elas que temos que reformar, com urgência? Ora, se assim é, a falha na produção de cérebros, para redundar no fiasco do Sputnik, deveria ter ocorrido em 1920 ou 1930, quando estavam nessas escolas os prováveis cientistas e engenheiros dos anos 1950. Por que então chicotear as escolas e professores de 1960? Não importa, o argumento pegou. Como pegaria em outras situações, com outros termos.
Sempre a educação na mira – como promessa de futuro ou como culpada do atraso. É por isso que vale relembrar o comentário de Larry Cuban e David Tyak em seu Tinkering toward Utopia: A Century of Public School Reform (Harvard University Press, 1995):
“Por que soluções para problemas econômicos mais amplos são com frequência apresentadas como reformas da escola? (...) Por que de fato os formuladores de política, federais e estaduais repetidamente apelam às escolas para ajudar a resolver os problemas econômicos nacionais? (...) Será preciso dizer que parece mais fácil consertar as escolas do que a economia? (...) Também é mais fácil apontar o dedo para o despreparo dos jovens como o problema a ser resolvido do que culpar executivos por decisões míopes ou apontar as mudanças em uma economia impulsionada pelas forças de mercado que são mal compreendidas”
Assim caminha a humanidade, com passos de formiga e sem vontade. O roqueiro sabia o que dizia...