
Zeferino põe em marcha
sua máquina de produzir ciência
Ouvindo soar clarins em Campinas, uspianos de alto coturno diziam que a Unicamp era um “produto de marketing”
EUSTÁQUIO GOMES
 EM SETEMBRO DE 1969, César Lattes foi a estrela do Congresso Internacional de Raios Cósmicos realizado em Budapeste. Ali, diante de cientistas de 45 países, ele tornou públicas suas pesquisas em torno da “bola de fogo” – um estado intermediário que se dá entre a colisão e a produção das partículas subatômicas –, cuja alta concentração poderia constituir, no futuro, uma fonte de aproveitamento energético. Quando as primeiras notícias da comunicação de Lattes chegaram pelas agências internacionais, Zeferino, informado a respeito pelo próprio Lattes, convocou a imprensa.
EM SETEMBRO DE 1969, César Lattes foi a estrela do Congresso Internacional de Raios Cósmicos realizado em Budapeste. Ali, diante de cientistas de 45 países, ele tornou públicas suas pesquisas em torno da “bola de fogo” – um estado intermediário que se dá entre a colisão e a produção das partículas subatômicas –, cuja alta concentração poderia constituir, no futuro, uma fonte de aproveitamento energético. Quando as primeiras notícias da comunicação de Lattes chegaram pelas agências internacionais, Zeferino, informado a respeito pelo próprio Lattes, convocou a imprensa.
— O mundo científico está altamente impressionado e, para dizer a verdade, houve quem ficasse em estado de dúvida quando César Lattes anunciou a espetacular descoberta, a denominada “bola de fogo”, disse.
Num tom de quem dirigia um time de gênios, informou que “um mês após o feito de Lattes a Unicamp recebera notícias da Rússia dando confirmações da descoberta, obtida através de potentíssimos aceleradores em escala de potência todavia menor do que a obtida por Lattes através de simples emulsões fotográficas deixadas durante um ano no Monte Chacaltaya, na Bolívia”. Ou seja, com o pouco obtinha-se o máximo – e isto era uma maneira nova de fazer ciência. Mais que equipamentos e edifícios, o importante era contar com cérebros de primeira ordem – e eis o gênero de universidade que ele construía.
Agindo como um maestro, Zeferino tinha a pretensão de que sua nova universidade funcionasse como uma orquestra. Nem sempre isso era possível, pois sempre havia alguém inclinado a tocar por outro diapasão, mas ele continuava se esforçando para que tudo parecesse uma ordem unida. Em um almoço com a imprensa no restaurante Barão, vizinho do campus, enumerou um por um os principais projetos de pesquisa em gestação nos laboratórios que acabara de montar e forneceu sua concepção de universidade moderna:
— Não deve ter uma população maior que 10 mil pessoas. Se a demanda por vagas crescer, cria-se uma outra universidade. É preciso evitar o inchaço patológico que acomete a USP, que não sabe mais quantos alunos tem.
Inspirado na teoria de “campus radial” colocada em circulação por Fausto Castilho, Zeferino passava horas trocando idéias com os arquitetos da Bross dos Santos & Leitner, a empresa contratada para fazer o plano piloto da universidade. Antes mesmo da existência de qualquer das três praças periféricas e da grande praça que funcionaria como uma ágora voltada para a Biblioteca Central e as unidades de ensino, mandou vir um projetista gráfico, Max Schiefer, para fazer a programação visual de todo o plano arquitetônico. Um das primeiras tarefas de Schiefer foi desenhar a logomarca da Unicamp. Para isso Zeferino deu-lhe instruções precisas: queria representadas as atividades-fim da universidade – o ensino, a pesquisa e a extensão. Schiefer não demorou a perceber que o símbolo a ser criado já estava contido na própria imagem do plano diretor. À imprensa, Zeferino explicava com prazer quase metafísico a criação de Schiefer:
— Vejam: tudo converge para a praça central e tudo diverge dela. As rótulas vermelhas do logotipo, em número de três, simbolizam três sóis que irradiam luz que a universidade multiplica e devolve à comunidade, formando profissionais, promovendo a pesquisa científica e prestando serviços.
Os jornais reproduziam suas frases de efeito e faziam soar clarins a cada nova pesquisa, o que levou um agastado José Goldemberg, peso-pesado da física uspiana, a declarar que a Unicamp era um genuíno “produto de marketing”. Entretanto, em menos de quatro anos os jovens físicos de Campinas haviam produzido mais de uma centena de trabalhos sobre física do estado sólido, aplicações de lasers e propriedades físicas de semicondutores, muitos dos quais publicados em revistas de prestígio como a Solid State Communications e a Phisical Review. Na esteira desses sucessos eles vinham conseguindo recursos de bancos como o BID e o Badesp, e de agências como CNPq e Fapesp, para financiar seus projetos, numa proporção que antes era prerrogativa quase que exclusiva da USP.
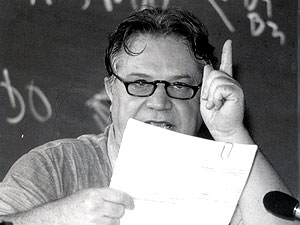 Outras áreas também estavam se estruturando depressa. Enquanto, num acordo com o governo do Estado, era incorporada a Faculdade de Engenharia Civil de Limeira, o Instituto de Biologia anunciava os primeiros resultados de suas pesquisas em genética, microbiologia e zoologia. E, no ano seguinte, com a ajuda de Cerqueira Leite, Zeferino mandou trazer da Universidade de Michigan o engenheiro Manoel Sobral Jr. para dar feição mais atualizada à Faculdade de Engenharia (Elétrica e Mecânica), coisa que Valverde e Theodureto não haviam conseguido. Egresso dos bancos do Instituto Tecnológico de Aeronáutica, o ITA, Sobral provocaria nos anos seguintes uma notável revoada de engenheiros de São José dos Campos para Campinas, carreando mais água para os moinhos de Zeferino. Não demoraria para que essa unidade de pesquisa da Unicamp se tornasse responsável por não menos que um terço de todas as teses de pós-graduação produzidas no país nesse campo do conhecimento, num universo de mais de quatro dezenas de escolas de engenharia.
Outras áreas também estavam se estruturando depressa. Enquanto, num acordo com o governo do Estado, era incorporada a Faculdade de Engenharia Civil de Limeira, o Instituto de Biologia anunciava os primeiros resultados de suas pesquisas em genética, microbiologia e zoologia. E, no ano seguinte, com a ajuda de Cerqueira Leite, Zeferino mandou trazer da Universidade de Michigan o engenheiro Manoel Sobral Jr. para dar feição mais atualizada à Faculdade de Engenharia (Elétrica e Mecânica), coisa que Valverde e Theodureto não haviam conseguido. Egresso dos bancos do Instituto Tecnológico de Aeronáutica, o ITA, Sobral provocaria nos anos seguintes uma notável revoada de engenheiros de São José dos Campos para Campinas, carreando mais água para os moinhos de Zeferino. Não demoraria para que essa unidade de pesquisa da Unicamp se tornasse responsável por não menos que um terço de todas as teses de pós-graduação produzidas no país nesse campo do conhecimento, num universo de mais de quatro dezenas de escolas de engenharia.
Nesse passo, em 1970 a máquina de produzir ciência estava em plena marcha e Campinas já era tida e havida como importante pólo tecnológico. Castilho, com uma desenvoltura que encantava Zeferino, fez uma autêntica cruzada pelos principais centros universitários europeus (Cambridge, Oxford, Londres, Paris, Toulouse), americanos (Nova York, Wisconsin, Stanford) e brasileiros (São Paulo e Rio de Janeiro) em busca de pesquisadores que quisessem afivelar suas malas. Em meados da década de 70, a caneta de Zeferino já havia assinado a contratação de 180 cientistas estrangeiros e 230 brasileiros que toparam vir com armas e bagagem para o “canavial de Campinas”.
Ao mesmo tempo, cuidava-se de enviar para o exterior, para serem titulados, um grande número de físicos, químicos, engenheiros, biólogos e lingüistas. Numa longa carta de saudação que enviou ao recém-empossado ministro da Educação, coronel Jarbas Passarinho, Zeferino tocou num ponto que julgava constrangedor: “o despreparo científico da grande maioria dos atuais professores titulares” brasileiros.
— A solução do problema está na indicação de jovens selecionados para se aperfeiçoarem em cursos de pós-graduação aqui e no estrangeiro. Mas há de ser na escala de milhares e não na de poucas dezenas, como agora.
Um dos primeiros grupos enviado ao exterior – no caso Besançon, no leste da França – foi o de lingüística, com dinheiro do governo paulista e a bênção do crítico Antonio Candido, conselheiro da Fapesp.* A opção de Fausto Castilho tinha a ver com a crença, muito cultivada na época, de que as áreas do conhecimento deviam passar por um processo de cientificação conduzido por uma ciência piloto que seria a lingüística, a qual, tendo se aproximado da matemática e enveredado mais que qualquer outra pelo desenvolvimento de métodos formais, invadira a literatura, a filosofia e a antropologia (o próprio Lévi-Strauss tomara a lingüística como modelo de análise antropológica); mas tinha a ver também, e sobretudo, com uma concepção de projeto acadêmico (em última instância, na visão de Fausto, da própria universidade) no qual a formação do cientista de humanidades devia integrar todas aquelas disciplinas, tendo como eixo a lingüística, sendo necessário para isso aproximar sociólogos, matemáticos, filósofos, cientistas políticos, teóricos da literatura etc num projeto comum.
Essa efervescência do câmbio acadêmico, que coincidia com o assentamento dos alicerces da pós-graduação brasileira, servia também para impressionar os centros de poder e amplificar a fama realizadora de Zeferino. Na sede do governo paulista, Dilson Funaro já havia terminado a costura da aproximação entre o reitor e o governador. Abreu Sodré havia se sensibilizado com a impressão, em bom papel, de seus discursos pela Unicamp. Já pouco contava a influência que sobre Sodré exercia o secretário da Educação, Ulhoa Cintra, inimigo histórico de Zeferino desde os tempos da USP. O dinheiro recomeçara a jorrar das torneiras do Estado. E com uma freqüência que alarmava, por vezes, os técnicos da área econômica. Um relato posterior mostra os bastidores de uma dessas investidas do Napoleãozinho.
 O governador era Abreu Sodré. Zeferino sai ufano de seu gabinete, cruza com o assessor de imprensa Carlos Tavares, cumprimenta-o com alegria. Tavares entra na sala de Sodré, encontra-o sorrindo: “O senhor deu a ele outra vez mais verbas que o programado. Vai haver queixas do pessoal da área econômica. E eu vou ter que explicar isso aos jornais”. Sodré: “Mas, Carlos, o que eu vou fazer? Dou o dinheiro, ele aplica rápido e bem. Parece mais engenheiro que médico. Volta pedindo mais com programas que me convencem. E eu sei que ele vai construir de novo. No país há poucos assim. Deixa que eu cuido do pessoal da área econômica. E se não houvesse problemas com jornais você não estaria aqui”.**
O governador era Abreu Sodré. Zeferino sai ufano de seu gabinete, cruza com o assessor de imprensa Carlos Tavares, cumprimenta-o com alegria. Tavares entra na sala de Sodré, encontra-o sorrindo: “O senhor deu a ele outra vez mais verbas que o programado. Vai haver queixas do pessoal da área econômica. E eu vou ter que explicar isso aos jornais”. Sodré: “Mas, Carlos, o que eu vou fazer? Dou o dinheiro, ele aplica rápido e bem. Parece mais engenheiro que médico. Volta pedindo mais com programas que me convencem. E eu sei que ele vai construir de novo. No país há poucos assim. Deixa que eu cuido do pessoal da área econômica. E se não houvesse problemas com jornais você não estaria aqui”.**
Dependente das altas esferas de poder, mas acostumado a arrancar delas o que queria, Zeferino firmava-se como um tipo de educador que no Brasil era pouco abundante: o construtor de escolas, o homem de ação inserido na dinâmica da aceleração histórica – uma expressão de época que lhe caía bem. Fazia um interessante contraponto com Fernando de Azevedo e Anísio Teixeira, homens de idéias e de livros, educadores na acepção do termo. Seu ideário era sucinto, direto e pouco epistemológico. Quando aspirava a ditar conceitos, seu estilo ganhava um tom de vademecum que não estava livre de prevenções.
Foi por essa época que, sentindo-se plenamente seguro em sua cadeira de mandarim, aproveitou para pôr em ordem suas idéias sobre a universidade e a melhor maneira de conduzi-la. Inapetente para tratados, enumerou-as em apenas 13 pontos.
“1. Instituições científicas, universitárias ou isoladas constroem-se com cérebros e não com edifícios. Escala de prioridades: a) cérebros; b) cérebros; c) cérebros; d) bibliotecas; e) equipamentos; f) edifícios. Isto é importante acentuar porque neste país acreditamos em fachadas.
2. Esses cérebros têm que trabalhar em tempo integral e ter o espírito de idealistas.
3. Não há pesquisa pura ou aplicada. Há boa ou má pesquisa.
4. A hierarquia científica deve ser estabelecida em função da criatividade e não dos títulos acadêmicos. Há doutos que não são doutores e há doutores que não são doutos.
5. A produção científica original é acelerada e multiplicada pela promoção de encontros e reuniões de cientistas de diferentes especialidades (físicos, químicos, biólogos, economistas, arquitetos, médicos) e de programas multidisciplinares. É o princípio da orquestração. O efeito estético obtido por um virtuose tocando isoladamente jamais alcança o obtido por um quarteto de câmera ou por uma orquestra sinfônica.
6. Em instituições científicas a administração é atividade-meio a serviço dos cientistas que realizam as atividades-fim, buscando remover-lhes as dificuldades e empecilhos burocráticos.
7. O administrador ou dirigente de instituições científicas deve ser ou deve ter sido criador de pensamento original, i.é, um cientista experimentado e portanto capaz de compreender os anseios e as dificuldades dos cientistas que dirige, apoiando-os e distribuindo recursos em função da capacidade produtiva.
8. É fundamental o contato direto, sem papéis ou canais burocráticos, entre o dirigente e os cientistas, ouvindo-os, estimulando-os, obviando dificuldades e auxiliando-os ativamente a resolver inclusive problemas humanos que, por vezes, também os afligem. É anseio legítimo do cientista saber que o dirigente, reitor ou diretor, o distingue e tem consciência da importância de seu trabalho.
9. O gigantismo é patológico para indivíduos, para cidades e para instituições científicas porque torna o dirigente científico incapaz de controlar a qualidade da produção científica.
10. O cientista deve ser avaliado e prestigiado não apenas pela própria produção original mas, e sobretudo, pela capacidade de formar e estimular discípulos que lhe multilplicam a produção, acelerando o caminho da ciência.
11. O dirigente científico deve saber distinguir a meia ciência, mascarada de ciência, mais prejudicial que a ignorância e subrepticiamente preocupada em combater a ciência verdadeira.
12. O dirigente científico deve lutar agressivamente contra a mediocridade, a rotina e a inveja. Elas constituem as três forças destrutivas, invejavelmente solidárias, que se opõem tenazmente às forças construtivas do talento, da insatisfação frente ao conhecimento adquirido e do ideal, características dos verdadeiros cientistas e que os levam a remover os horizontes do conhecimento humano.
13. Não interessa ao dirigente científico o pensamento político-ideológico dos cientistas que dirige, contanto que não usem a sua superioridade hierárquica e cultural para doutrinação de seus jovens discípulos. A experiência demonstrou que quando ideologias políticas extremistas entram pela porta das instituições científicas a ciência sai pela janela.”
* No primeiro grupo seguiram o filósofo Luís Orlandi e os antropólogos Antônio Augusto Arantes e Angelo Barone. No segundo, os lingüistas Carlos Vogt, Carlos Franchi, Akira Osakabe e Rodolfo Ilari. Em Besançon pontificava o lingüista Ives Gentilhomme, que mais tarde assumiria a coordenação dos cursos de pós-graduação de lingüística da Unicamp a convite de Fausto Castilho. Em 1972, Oswald Ducrot, trazido por Carlos Vogt, ajudaria a consolidar o curso.
** Diário do Povo, 11 de fevereiro de 1981.
Diferença de conceitos gera primeira conflito
Pomo-da-discórdia foi o empréstimo de dois economistas ao gabinete do secretário da Fazenda
 NO INÍCIO DE 1971, João Manuel Cardoso de Mello e Luiz Gonzaga Belluzzo, dois pilares do programa de cursos intensivos de planejamento econômico que a Unicamp oferecia a administradores públicos, foram atraídos pelas idéias desenvolvimentistas do secretário da Fazenda do governo Sodré, o empresário Dilson Funaro. Funaro acreditava que, numa fase de crescimento da economia e de ampliação da receita fiscal, havia espaço para o governo produzir riqueza com as próprias mãos, a partir, sobretudo, da atuação dos bancos públicos no estímulo ao crescimento industrial. Isso era compatível com a idéia de desenvolvimento nacional, palatável tanto ao governo militar quanto à esquerda, onde os economistas da Unicamp acreditavam situar-se. Por isso, não pensaram duas vezes para aceitar o convite de Funaro para que fossem assessorá-lo na Secretaria da Fazenda.
NO INÍCIO DE 1971, João Manuel Cardoso de Mello e Luiz Gonzaga Belluzzo, dois pilares do programa de cursos intensivos de planejamento econômico que a Unicamp oferecia a administradores públicos, foram atraídos pelas idéias desenvolvimentistas do secretário da Fazenda do governo Sodré, o empresário Dilson Funaro. Funaro acreditava que, numa fase de crescimento da economia e de ampliação da receita fiscal, havia espaço para o governo produzir riqueza com as próprias mãos, a partir, sobretudo, da atuação dos bancos públicos no estímulo ao crescimento industrial. Isso era compatível com a idéia de desenvolvimento nacional, palatável tanto ao governo militar quanto à esquerda, onde os economistas da Unicamp acreditavam situar-se. Por isso, não pensaram duas vezes para aceitar o convite de Funaro para que fossem assessorá-lo na Secretaria da Fazenda.
Para Zeferino, esse arranjo era altamente conveniente, pois significava ter dois de seus homens com os pés fincados no gabinete onde se definia a destinação dos investimentos no Estado, tanto mais tratando-se de um governo com o qual a reitoria vinha tendo problemas. Fausto Castilho é que não simpatizou nem um pouco com a idéia: empenhado em implantar seu projeto de graduação – o Studium generale, que antecipava o curso básico adotado mais tarde pela maioria das universidades brasileiras — preferia ter seus professores por perto e cumprindo o contrato de tempo integral. Fazia questão até mesmo de que fixassem residência na cidade. Ao voltar de uma viagem à Europa e ver consumada a situação de empréstimo dos dois docentes ao governo do Estado, passou a exigir do reitor o encerramento dos contratos de ambos ou sua conversão para o regime de tempo parcial. Como nada disso aconteceu, Castilho pôs Zeferino em xeque colocando-os à disposição da reitoria, isto é, forçando a desvinculação deles do instituto que dirigia.
Aliás, o pomo-da-discórdia vinha maturando desde 1969, uma vez que os programas de cursos livres exigiam deslocamentos constantes do grupo de economistas, com ausências prolongadas e viagens de centenas e até milhares de quilômetros, tal a demanda que chegava dos empresários e das administrações públicas. Os cursos para empresários, por exemplo, tiveram tão boa aceitação que logo despertaram o interesse do ministro do Planejamento, João Paulo dos Reis Velloso, e de Miguel Colasuono, secretário de Planejamento paulista. Interiorização e desenvolvimento, afinal, era o slogan do governador da época, Laudo Natel. Nas asas de um generoso financiamento do BNDES, os economistas perdiam-se por meses nas estradas esburacadas do interior do país, praticando, afinal, o que pregava o Partido Comunista e o que a ala nacionalista do regime (Zeferino inclusive) estava longe de desprezar: “promover o desenvolvimento” da pequena e média indústria, ou seja, do capital nacional.
 Não demorou a surgir daí um conflito de grandes proporções que se arrastaria por três anos e chegaria a um desfecho dramático. Além das questões de natureza regimental, havia diferenças de conceituação sérias sobre como deveria ser a universidade nascente e, sobretudo, o curso de economia que estava sendo estruturado. Castilho preferia planejamento econômico e social a economia em sua acepção clássica. Lembrando que a China não possuía economistas, assegurava que o país precisava mesmo era de planejadores. Além disso mostrava-se contrário à idéia, tão cara a Zeferino, de construir-se um grande hospital no campus com área assistencial extensa: contra esse princípio, defendia que um hospital-escola com finalidades acadêmicas bastava aos propósitos do curso médico. Ficava mais barato e se evitariam problemas de financiamento no futuro.
Não demorou a surgir daí um conflito de grandes proporções que se arrastaria por três anos e chegaria a um desfecho dramático. Além das questões de natureza regimental, havia diferenças de conceituação sérias sobre como deveria ser a universidade nascente e, sobretudo, o curso de economia que estava sendo estruturado. Castilho preferia planejamento econômico e social a economia em sua acepção clássica. Lembrando que a China não possuía economistas, assegurava que o país precisava mesmo era de planejadores. Além disso mostrava-se contrário à idéia, tão cara a Zeferino, de construir-se um grande hospital no campus com área assistencial extensa: contra esse princípio, defendia que um hospital-escola com finalidades acadêmicas bastava aos propósitos do curso médico. Ficava mais barato e se evitariam problemas de financiamento no futuro.
Tudo isto Zeferino ia registrando e debitando na conta moral de Castilho. Discutir as diferentes maneiras de realizar um projeto, isso era uma coisa; contraditar as grandes linhas do projeto principal, era o que ele não podia tolerar. Essa inflexibilidade desagradava até mesmo velhos amigos como Marcello Damy. Com o tempo o reitor passou a tomar como suas as queixas dos cepalinos contra Castilho, por este vir se revelando, cada vez mais, um crítico feroz de suas atitudes e concepções.
Os cursos de planejamento econômico, por exemplo, eram a pedra de toque das relações de Zeferino com o empresariado. Ele tinha enorme prazer em assinar os certificados de conclusão desses cursos. Fazia questão de estar presente nas cerimônias de diplomação. Ao apertar a mão de cada formando, era como se desse um impulso à indústria brasileira. Aos empresários da indústria internacional, com quem se reunia freqüentemente para definir os currículos dos cursos tecnológicos, dizia que o programa de pequenas e médias empresas devia interessar também a eles, pois lucrariam na medida em que o setor periférico se organizasse e formasse uma linha auxiliar eficiente. Somente uma vez, quando os cursos ainda estavam sendo montados e tratava-se de escolher um nome para o programa, questionou:
— Mas por que “pequena e média” e não simplesmente “empresa”?
Osmar Marchese, o idealizador dos cursos, convenceu-o com um argumento que costumava tocá-lo fundo:
— Porque é importante o fortalecimento de um segmento empresarial de conotação nacionalista.
Castilho, que em 1960 atraíra Jean-Paul Sartre, então em visita ao Brasil, para um célebre debate na Faculdade de Filosofia de Araraquara, até podia comungar desse pensamento, mas não achava que fosse papel da universidade ajudar o empresariado. Aliás, tinha horror a esse tipo de “assistencialismo”. Para ele, a crer nos relatos que os economistas levavam a Zeferino, “pequena e média empresa” devia entrar no máximo como um capítulo da disciplina “introdução à administração”.
 Assim, Castilho estava longe de cerrar fileiras com os cruzados da pequena e média empresa. E isto passou a afetar as relações de trabalho e a gerar tensão permanente nas humanidades. Dificuldades afloraram. Éolo Pagnani, na véspera de uma viagem a Manaus em função de um convênio firmado com o governo do Amazonas, esbarrou nelas quando se tratou de comprar o bilhete aéreo para a viagem. Castilho era de opinião que, nesse caso, passagens e o pagamento de diárias deveriam ficar a cargo do conveniado. Por coisas como esta, muita bile correu pelas aléias do campus. De outra feita, autorizado pelo reitor a viajar ao Peru para ministrar um curso da Cepal, Wilson Cano, já em Lima, foi interceptado por um telegrama de Castilho chamando-o de volta: à sua espera, em Campinas, havia um curso sobre contabilidade nacional para ser dado. Homem de temperamento quente, Cano se recusou a obedecer. Quando efetivamente retornou da viagem, curso dado, foi informado de que não deveria adotar o livro Introdução à Economia, de Antonio Barros de Castro e Carlos Lessa – Castilho e Barros tinham brigado – um clássico no assunto. Cano, que havia recebido uma oferta de emprego do Banco Interamericano de Desenvolvimento, subiu à reitoria com sua carta de demissão:
Assim, Castilho estava longe de cerrar fileiras com os cruzados da pequena e média empresa. E isto passou a afetar as relações de trabalho e a gerar tensão permanente nas humanidades. Dificuldades afloraram. Éolo Pagnani, na véspera de uma viagem a Manaus em função de um convênio firmado com o governo do Amazonas, esbarrou nelas quando se tratou de comprar o bilhete aéreo para a viagem. Castilho era de opinião que, nesse caso, passagens e o pagamento de diárias deveriam ficar a cargo do conveniado. Por coisas como esta, muita bile correu pelas aléias do campus. De outra feita, autorizado pelo reitor a viajar ao Peru para ministrar um curso da Cepal, Wilson Cano, já em Lima, foi interceptado por um telegrama de Castilho chamando-o de volta: à sua espera, em Campinas, havia um curso sobre contabilidade nacional para ser dado. Homem de temperamento quente, Cano se recusou a obedecer. Quando efetivamente retornou da viagem, curso dado, foi informado de que não deveria adotar o livro Introdução à Economia, de Antonio Barros de Castro e Carlos Lessa – Castilho e Barros tinham brigado – um clássico no assunto. Cano, que havia recebido uma oferta de emprego do Banco Interamericano de Desenvolvimento, subiu à reitoria com sua carta de demissão:
— Vim me despedir.
Zeferino alarmou-se:
— Para onde vai?
— Para Washington.
O reitor botou-lhe a mão pequenina no ombro maciço:
— Meu filho, conheço bem você. Tenha calma. Dê tempo ao tempo que vou dar um jeito nisso.
 E Cano ficou. No entanto, a querela continuou. Com a temperatura subindo a níveis cada vez mais altos, não faltou quem se dispusesse a promover a conciliação dos contrários. O lingüista Carlos Vogt foi um desses mediadores.* Outro foi o filósofo Michel Debrun, contemporâneo de Sartre quando este era professor na École Normale Supérieure, em Paris, e que fora trazido para a Unicamp pelo próprio Castilho. Mas a fratura já estava desenhada e era insanável. Reunido na casa de Figueiredo, o grupo redigiu uma dura exposição de motivos para ser lida perante o chefe. Era uma última tentativa de aproximação, mas tinha o tom de um ultimato. Tiraram no palitinho quem leria a catilinária. Wilson Cano foi sorteado. A increpação soou muito mal a Castilho e a situação azedou de vez. Uma semana mais tarde, um Zeferino surpreso ouviu tocar a campainha de sua casa em São Paulo. Encontrou o grupo inteiro à sua porta: João Manuel, Belluzzo, Ferdinando, Osmar, Cano.
E Cano ficou. No entanto, a querela continuou. Com a temperatura subindo a níveis cada vez mais altos, não faltou quem se dispusesse a promover a conciliação dos contrários. O lingüista Carlos Vogt foi um desses mediadores.* Outro foi o filósofo Michel Debrun, contemporâneo de Sartre quando este era professor na École Normale Supérieure, em Paris, e que fora trazido para a Unicamp pelo próprio Castilho. Mas a fratura já estava desenhada e era insanável. Reunido na casa de Figueiredo, o grupo redigiu uma dura exposição de motivos para ser lida perante o chefe. Era uma última tentativa de aproximação, mas tinha o tom de um ultimato. Tiraram no palitinho quem leria a catilinária. Wilson Cano foi sorteado. A increpação soou muito mal a Castilho e a situação azedou de vez. Uma semana mais tarde, um Zeferino surpreso ouviu tocar a campainha de sua casa em São Paulo. Encontrou o grupo inteiro à sua porta: João Manuel, Belluzzo, Ferdinando, Osmar, Cano.
— Ou nós ou ele, foi logo dizendo João.
O reitor, que já tinha pensado longamente no assunto, sacou uma carta da manga:
— Muito bem. Tenho uma saída. Vamos fazer o Fausto cair subindo a escada. Vamos criar para ele um Instituto de Ciências Humanas. O Fausto vira diretor, vocês ganham autonomia e vão fazer seu doutorado.
No papel, isso era perfeito. Parecia conveniente para todos. Zeferino mandou vir do Rio um homem que os economistas respeitavam, João Paulo de Almeida Magalhães, para dirigir o Depes e orientar o doutoramento do grupo.** A fórmula funcionou bem durante algum tempo, pois Magalhães passou a fazer também o papel de algodão entre cristais, mas logo se viu que era tarde demais para consertar uma relação em ruínas. Além disso, a disposição de Zeferino para com Castilho, que já não era boa, passou a incluir, de par com uma astúcia calculada, o espírito de vindita. Ele mantinha um olho no funcionamento das ciências humanas – não lhe interessava uma crise em área tão sensível – e outro, mais apurado, na duração do contrato de seu oponente. Alguns meses mais, e a palavra “renovação” teria de ser pronunciada. (E.G.)
* Carlos Vogt, lingüista e poeta, seria reitor da Unicamp
de 1990 a 1994.
** Os economistas do Depes projetavam fazer seu doutoramento conforme um decreto estadual de 1969 que facultava a defesa de tese sem a necessidade do cumprimento de créditos. Castilho era contra esse expediente, o que se tornou mais um motivo de atrito.
Continua na próxima edição.






 EM SETEMBRO DE 1969, César Lattes foi a estrela do Congresso Internacional de Raios Cósmicos realizado em Budapeste. Ali, diante de cientistas de 45 países, ele tornou públicas suas pesquisas em torno da “bola de fogo” – um estado intermediário que se dá entre a colisão e a produção das partículas subatômicas –, cuja alta concentração poderia constituir, no futuro, uma fonte de aproveitamento energético. Quando as primeiras notícias da comunicação de Lattes chegaram pelas agências internacionais, Zeferino, informado a respeito pelo próprio Lattes, convocou a imprensa.
EM SETEMBRO DE 1969, César Lattes foi a estrela do Congresso Internacional de Raios Cósmicos realizado em Budapeste. Ali, diante de cientistas de 45 países, ele tornou públicas suas pesquisas em torno da “bola de fogo” – um estado intermediário que se dá entre a colisão e a produção das partículas subatômicas –, cuja alta concentração poderia constituir, no futuro, uma fonte de aproveitamento energético. Quando as primeiras notícias da comunicação de Lattes chegaram pelas agências internacionais, Zeferino, informado a respeito pelo próprio Lattes, convocou a imprensa.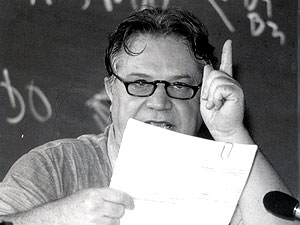 Outras áreas também estavam se estruturando depressa. Enquanto, num acordo com o governo do Estado, era incorporada a Faculdade de Engenharia Civil de Limeira, o Instituto de Biologia anunciava os primeiros resultados de suas pesquisas em genética, microbiologia e zoologia. E, no ano seguinte, com a ajuda de Cerqueira Leite, Zeferino mandou trazer da Universidade de Michigan o engenheiro Manoel Sobral Jr. para dar feição mais atualizada à Faculdade de Engenharia (Elétrica e Mecânica), coisa que Valverde e Theodureto não haviam conseguido. Egresso dos bancos do Instituto Tecnológico de Aeronáutica, o ITA, Sobral provocaria nos anos seguintes uma notável revoada de engenheiros de São José dos Campos para Campinas, carreando mais água para os moinhos de Zeferino. Não demoraria para que essa unidade de pesquisa da Unicamp se tornasse responsável por não menos que um terço de todas as teses de pós-graduação produzidas no país nesse campo do conhecimento, num universo de mais de quatro dezenas de escolas de engenharia.
Outras áreas também estavam se estruturando depressa. Enquanto, num acordo com o governo do Estado, era incorporada a Faculdade de Engenharia Civil de Limeira, o Instituto de Biologia anunciava os primeiros resultados de suas pesquisas em genética, microbiologia e zoologia. E, no ano seguinte, com a ajuda de Cerqueira Leite, Zeferino mandou trazer da Universidade de Michigan o engenheiro Manoel Sobral Jr. para dar feição mais atualizada à Faculdade de Engenharia (Elétrica e Mecânica), coisa que Valverde e Theodureto não haviam conseguido. Egresso dos bancos do Instituto Tecnológico de Aeronáutica, o ITA, Sobral provocaria nos anos seguintes uma notável revoada de engenheiros de São José dos Campos para Campinas, carreando mais água para os moinhos de Zeferino. Não demoraria para que essa unidade de pesquisa da Unicamp se tornasse responsável por não menos que um terço de todas as teses de pós-graduação produzidas no país nesse campo do conhecimento, num universo de mais de quatro dezenas de escolas de engenharia. O governador era Abreu Sodré. Zeferino sai ufano de seu gabinete, cruza com o assessor de imprensa Carlos Tavares, cumprimenta-o com alegria. Tavares entra na sala de Sodré, encontra-o sorrindo: “O senhor deu a ele outra vez mais verbas que o programado. Vai haver queixas do pessoal da área econômica. E eu vou ter que explicar isso aos jornais”. Sodré: “Mas, Carlos, o que eu vou fazer? Dou o dinheiro, ele aplica rápido e bem. Parece mais engenheiro que médico. Volta pedindo mais com programas que me convencem. E eu sei que ele vai construir de novo. No país há poucos assim. Deixa que eu cuido do pessoal da área econômica. E se não houvesse problemas com jornais você não estaria aqui”.**
O governador era Abreu Sodré. Zeferino sai ufano de seu gabinete, cruza com o assessor de imprensa Carlos Tavares, cumprimenta-o com alegria. Tavares entra na sala de Sodré, encontra-o sorrindo: “O senhor deu a ele outra vez mais verbas que o programado. Vai haver queixas do pessoal da área econômica. E eu vou ter que explicar isso aos jornais”. Sodré: “Mas, Carlos, o que eu vou fazer? Dou o dinheiro, ele aplica rápido e bem. Parece mais engenheiro que médico. Volta pedindo mais com programas que me convencem. E eu sei que ele vai construir de novo. No país há poucos assim. Deixa que eu cuido do pessoal da área econômica. E se não houvesse problemas com jornais você não estaria aqui”.** NO INÍCIO DE 1971, João Manuel Cardoso de Mello e Luiz Gonzaga Belluzzo, dois pilares do programa de cursos intensivos de planejamento econômico que a Unicamp oferecia a administradores públicos, foram atraídos pelas idéias desenvolvimentistas do secretário da Fazenda do governo Sodré, o empresário Dilson Funaro. Funaro acreditava que, numa fase de crescimento da economia e de ampliação da receita fiscal, havia espaço para o governo produzir riqueza com as próprias mãos, a partir, sobretudo, da atuação dos bancos públicos no estímulo ao crescimento industrial. Isso era compatível com a idéia de desenvolvimento nacional, palatável tanto ao governo militar quanto à esquerda, onde os economistas da Unicamp acreditavam situar-se. Por isso, não pensaram duas vezes para aceitar o convite de Funaro para que fossem assessorá-lo na Secretaria da Fazenda.
NO INÍCIO DE 1971, João Manuel Cardoso de Mello e Luiz Gonzaga Belluzzo, dois pilares do programa de cursos intensivos de planejamento econômico que a Unicamp oferecia a administradores públicos, foram atraídos pelas idéias desenvolvimentistas do secretário da Fazenda do governo Sodré, o empresário Dilson Funaro. Funaro acreditava que, numa fase de crescimento da economia e de ampliação da receita fiscal, havia espaço para o governo produzir riqueza com as próprias mãos, a partir, sobretudo, da atuação dos bancos públicos no estímulo ao crescimento industrial. Isso era compatível com a idéia de desenvolvimento nacional, palatável tanto ao governo militar quanto à esquerda, onde os economistas da Unicamp acreditavam situar-se. Por isso, não pensaram duas vezes para aceitar o convite de Funaro para que fossem assessorá-lo na Secretaria da Fazenda. Não demorou a surgir daí um conflito de grandes proporções que se arrastaria por três anos e chegaria a um desfecho dramático. Além das questões de natureza regimental, havia diferenças de conceituação sérias sobre como deveria ser a universidade nascente e, sobretudo, o curso de economia que estava sendo estruturado. Castilho preferia planejamento econômico e social a economia em sua acepção clássica. Lembrando que a China não possuía economistas, assegurava que o país precisava mesmo era de planejadores. Além disso mostrava-se contrário à idéia, tão cara a Zeferino, de construir-se um grande hospital no campus com área assistencial extensa: contra esse princípio, defendia que um hospital-escola com finalidades acadêmicas bastava aos propósitos do curso médico. Ficava mais barato e se evitariam problemas de financiamento no futuro.
Não demorou a surgir daí um conflito de grandes proporções que se arrastaria por três anos e chegaria a um desfecho dramático. Além das questões de natureza regimental, havia diferenças de conceituação sérias sobre como deveria ser a universidade nascente e, sobretudo, o curso de economia que estava sendo estruturado. Castilho preferia planejamento econômico e social a economia em sua acepção clássica. Lembrando que a China não possuía economistas, assegurava que o país precisava mesmo era de planejadores. Além disso mostrava-se contrário à idéia, tão cara a Zeferino, de construir-se um grande hospital no campus com área assistencial extensa: contra esse princípio, defendia que um hospital-escola com finalidades acadêmicas bastava aos propósitos do curso médico. Ficava mais barato e se evitariam problemas de financiamento no futuro.  Assim, Castilho estava longe de cerrar fileiras com os cruzados da pequena e média empresa. E isto passou a afetar as relações de trabalho e a gerar tensão permanente nas humanidades. Dificuldades afloraram. Éolo Pagnani, na véspera de uma viagem a Manaus em função de um convênio firmado com o governo do Amazonas, esbarrou nelas quando se tratou de comprar o bilhete aéreo para a viagem. Castilho era de opinião que, nesse caso, passagens e o pagamento de diárias deveriam ficar a cargo do conveniado. Por coisas como esta, muita bile correu pelas aléias do campus. De outra feita, autorizado pelo reitor a viajar ao Peru para ministrar um curso da Cepal, Wilson Cano, já em Lima, foi interceptado por um telegrama de Castilho chamando-o de volta: à sua espera, em Campinas, havia um curso sobre contabilidade nacional para ser dado. Homem de temperamento quente, Cano se recusou a obedecer. Quando efetivamente retornou da viagem, curso dado, foi informado de que não deveria adotar o livro Introdução à Economia, de Antonio Barros de Castro e Carlos Lessa – Castilho e Barros tinham brigado – um clássico no assunto. Cano, que havia recebido uma oferta de emprego do Banco Interamericano de Desenvolvimento, subiu à reitoria com sua carta de demissão:
Assim, Castilho estava longe de cerrar fileiras com os cruzados da pequena e média empresa. E isto passou a afetar as relações de trabalho e a gerar tensão permanente nas humanidades. Dificuldades afloraram. Éolo Pagnani, na véspera de uma viagem a Manaus em função de um convênio firmado com o governo do Amazonas, esbarrou nelas quando se tratou de comprar o bilhete aéreo para a viagem. Castilho era de opinião que, nesse caso, passagens e o pagamento de diárias deveriam ficar a cargo do conveniado. Por coisas como esta, muita bile correu pelas aléias do campus. De outra feita, autorizado pelo reitor a viajar ao Peru para ministrar um curso da Cepal, Wilson Cano, já em Lima, foi interceptado por um telegrama de Castilho chamando-o de volta: à sua espera, em Campinas, havia um curso sobre contabilidade nacional para ser dado. Homem de temperamento quente, Cano se recusou a obedecer. Quando efetivamente retornou da viagem, curso dado, foi informado de que não deveria adotar o livro Introdução à Economia, de Antonio Barros de Castro e Carlos Lessa – Castilho e Barros tinham brigado – um clássico no assunto. Cano, que havia recebido uma oferta de emprego do Banco Interamericano de Desenvolvimento, subiu à reitoria com sua carta de demissão: E Cano ficou. No entanto, a querela continuou. Com a temperatura subindo a níveis cada vez mais altos, não faltou quem se dispusesse a promover a conciliação dos contrários. O lingüista Carlos Vogt foi um desses mediadores.* Outro foi o filósofo Michel Debrun, contemporâneo de Sartre quando este era professor na École Normale Supérieure, em Paris, e que fora trazido para a Unicamp pelo próprio Castilho. Mas a fratura já estava desenhada e era insanável. Reunido na casa de Figueiredo, o grupo redigiu uma dura exposição de motivos para ser lida perante o chefe. Era uma última tentativa de aproximação, mas tinha o tom de um ultimato. Tiraram no palitinho quem leria a catilinária. Wilson Cano foi sorteado. A increpação soou muito mal a Castilho e a situação azedou de vez. Uma semana mais tarde, um Zeferino surpreso ouviu tocar a campainha de sua casa em São Paulo. Encontrou o grupo inteiro à sua porta: João Manuel, Belluzzo, Ferdinando, Osmar, Cano.
E Cano ficou. No entanto, a querela continuou. Com a temperatura subindo a níveis cada vez mais altos, não faltou quem se dispusesse a promover a conciliação dos contrários. O lingüista Carlos Vogt foi um desses mediadores.* Outro foi o filósofo Michel Debrun, contemporâneo de Sartre quando este era professor na École Normale Supérieure, em Paris, e que fora trazido para a Unicamp pelo próprio Castilho. Mas a fratura já estava desenhada e era insanável. Reunido na casa de Figueiredo, o grupo redigiu uma dura exposição de motivos para ser lida perante o chefe. Era uma última tentativa de aproximação, mas tinha o tom de um ultimato. Tiraram no palitinho quem leria a catilinária. Wilson Cano foi sorteado. A increpação soou muito mal a Castilho e a situação azedou de vez. Uma semana mais tarde, um Zeferino surpreso ouviu tocar a campainha de sua casa em São Paulo. Encontrou o grupo inteiro à sua porta: João Manuel, Belluzzo, Ferdinando, Osmar, Cano. 