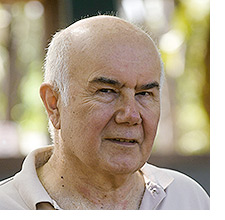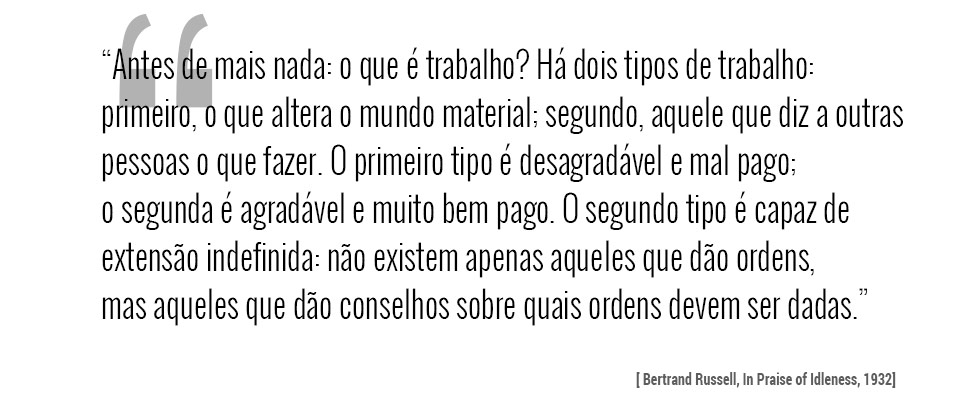
 Em tempos de barbárie trabalhista, a nova moda é falar em fim do emprego “tal como o conhecemos”. O mais preocupante é que, muitas vezes, essa pulverização das carreiras e ofícios é apresentada como um resultado inevitável da “modernidade”. E como algo a que temos que nos acomodar, talvez até mesmo festejar.
Em tempos de barbárie trabalhista, a nova moda é falar em fim do emprego “tal como o conhecemos”. O mais preocupante é que, muitas vezes, essa pulverização das carreiras e ofícios é apresentada como um resultado inevitável da “modernidade”. E como algo a que temos que nos acomodar, talvez até mesmo festejar.
Contudo, a forma pela qual a automação e a “reengenharia” das ocupações acontece não tem nada a ver com uma fatalidade técnica. Ela tem uma dimensão técnica, o que é outra coisa. Essa dimensão técnica é uma “janela de oportunidade” para reduzir custos do trabalho – isto é, para arrochar quem trabalha. Essa dimensão não é técnica, é social, é política.
Já faz tempo que a literatura especializada tem refletido sobre a translação do conhecimento tácito para conhecimento codificado – e sobre o que isso significa para substituir o trabalho humano pelo trabalho de artefatos “inteligentes”. Um dos mais sofisticados e provocativos estudos é o de Herbert Simon, em livrinho sobre as chamadas ciências do artificial, publicado pelo MIT em 1969.
Existe algo relevante (e preocupante) que ainda não estava no estudo de Simon, mas passou a integrar cada vez mais os estudos que o seguiram: como a automação caminha passo a passo com a possibilidade de “deslocalizar” o emprego e, assim, acrescentar mais instabilidade ao já periclitante mundo do trabalho. Aliás, a mesma lógica que permite a automação viabiliza, também, o offshore dos empregos.
O tema tem sido explorado por dois economistas europeus, Robin Cowan e Dominique Foray. Um dos artigos em que sintetizam seus achados está disponível neste endereço: https://academic.oup.com/icc/article-abstract/6/3/595/677084?redirectedFrom=fulltext
Em termos genéricos, dizem eles, uma porção de conhecimento aparece inicialmente como puramente tácito e progressivamente se torna codificado. Explorado, utilizado, é cada vez mais codificado e compartilhado a baixo custo. Um procedimento, por exemplo, pode ser transformado em uma rotina e se torna replicável. Daí, decomposto em pedaços simples, pode ser descrito e “embutido” em um dispositivo. Essa “maquinização” é outra forma de codificar o que antes era tácito.
Quanto mais se consegue expandir a parte codificada do conhecimento adquirido e útil, maiores as consequências sobre a forma das relações econômicas e a organização do trabalho.
A chave, portanto, está nessa relação cambiante entre o codificado, o codificável e o tácito (ou ainda tácito). Sempre algo “tácito” ou fortemente ancorado nas pessoas e instituições existirá como limite do codificável ou mesmo como condição para uso do codificado. Há pelo menos um elemento tácito que é pré-condição de utilizar o codificado: o conhecimento sobre o “como ler as mensagens”. A mídia em que está “embalado” o conhecimento precisa ser lida. A sua linguagem precisa estar ainda viva nos leitores. Então – e somente então – esse conhecimento pode ser armazenado e retomado por indefinidas vezes.
Esse achado é fundamental : a utilização do codificado depende, fundamentalmente, de um elemento que em parte é inarredavelmente tácito, enraizado na experiência das pessoas e instituições, no seu domínio dos códigos de interpretação, dos modos pelos quais são percebidos e interiorizados. O que é um elemento parcial, mas decisivo.
Essas distinções – e os limites do codificável e compartilhável – são relevantes na literatura que tem explorado o modo como se amplia a deslocalização das tarefas e dos empregos, no processo de globalização produtiva. Já há muito tempo – nos albores desse debate sobre tácito e codificado – autores como Richard Nelson e David Mowery, entre outros, apontavam o caráter decisivo do “ainda tácito”, embutido em pessoas e instituições, como pré-requisito para circulação e uso do codificado. Esses dois autores, em especial, sublinhavam a importância da formação de national capabilites. Outros falavam em absortive capabilities. Alguns historiadores da interação entre pesquisa e indústria, nos Estados Unidos, lembram a experiência (virada do século XIX para o XX e primeiras décadas do XX) dos laboratórios independentes que eram contratados pelas indústrias, antes da multiplicação da pesquisa in house. Em geral, isso era possível pela natureza da encomenda – a análise de materiais, por exemplo, não desenvolvimento de projetos. E nessa situação, aquele que encomenda precisa saber o que encomendar e saber como ler os resultados entregues pelo laboratório – em suma, um razoável estoque de engenheiros e cientistas in house era necessário para que a pesquisa “terceirizada” tivesse sentido.
A literatura sobre o movimento de “offshore” dos empregos tem partido desse problema – de definições dos conceitos – para mapear a extensão do fenômeno. Uma pequena seleção de estudos incluiria estes, que examinei de partida. É o caso dos estudos de Phillip Brown, Hugh Lauder e David Ashton, The Global Auction: The Broken Promises of Education, Jobs, and Incomes [Oxford University Press, 2011]. Ou de Jamie Peck – Offshore – Exploring the Worlds of Global Outsourcing [Oxford University Press, 2017]. Nos Estados Unidos, Alan Blinder, um economista de Princeton e antigo dirigente do Federal Reserve, tem provocado celeuma com seus alarmes a respeito do “tsunami” de fuga de empregos americanos para o mundo “exterior”.
Esses estudos têm mostrado que não se trata de nenhum “determinismo tecnológico”, de algum tipo de fatalidade, mas, sim, de processos históricos que possuem, sim, imposições, mas, de outro lado, refletem escolhas, decisões de indivíduos e organizações. A estória dessa história vai longe, mas talvez valha a pena pelo menos ter um resumo do enredo.
Desenvolveremos esse enredo no próximo artigo, comentando os estudos acima. Ele envolve a própria reconfiguração da geografia do trabalho, isto é, da redefinição dos lugares em que cada coisa é produzida, cada operação é realizada. E a redefinição também diz respeito ao lugar que cada um dos dois modos do trabalho – aqueles mencionados por Bertrand Russel – se distribuem no planeta. Onde ficam os que fazem e onde ficam aqueles que mandam fazer. Ah, sim, e onde ficam os “conselheiros” dos que mandam. Na próxima semana, nesta mesma tela...