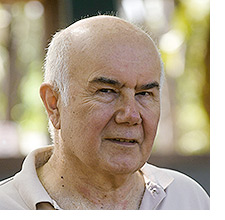O atentado de 11 de setembro de 2001 muito provavelmente passará à história atravessado por múltiplas lentes de interpretação. Muito dele já se disse e mais ainda se dirá – e quanto mais protegido pelo sigilo, mais suscitará fantasias.
O atentado de 11 de setembro de 2001 muito provavelmente passará à história atravessado por múltiplas lentes de interpretação. Muito dele já se disse e mais ainda se dirá – e quanto mais protegido pelo sigilo, mais suscitará fantasias.
O número de “teorias” sobre o ataque é enorme. Mas talvez possam ser enquadradas em quatro tipos básicos, que se superpõem aqui e ali:
- O governo americano e suas forças de “inteligência” não sabiam de nada, foram tomados de surpresa. Incompetência generalizada.
- Os serviços de inteligência sabiam que havia algo suspeito nas manobras de uns vinte árabes esquisitos que aprendiam a pilotar. Mas não investigaram grande coisa. Avisaram o executivo, que não deu bola, pela imprecisão dos dados.
- Os serviços de Inteligência e o governo sabiam com relativa precisão que algo grande estava por acontecer, mas, por diversas razões de cada parte, optaram por deixar correr, para depois tirar vantagem da coisa.
- O governo (ou a inteligência) armou o pampeiro, para tirar proveito depois.
Como dissemos, o empenho em bloquear informações fez com que tais “teorias” navegassem com desenvoltura. Principalmente as mais cabeludas. Não faltou sequer a intervenção de alienígenas.
De qualquer modo, para o governo de Bush II, o evento talvez tenha sido seu Pearl Harbor. Não faltou quem lembrasse essa semelhança. Jornalistas, por suposto. Mas não apenas. Henry Kissinger, aquele misto de assessor da corte e criminoso de guerra, apressou-se a tirar as consequências da analogia: "O governo deve dar uma resposta sistemática que, espera-se, acabe do jeito que terminou o ataque a Pearl Harbor -- com a destruição do sistema que é responsável por isso." Um editorial da revista Time batia na mesma tecla e no mesmo tom: "De uma vez por todas, deixemos de tola retórica a respeito de curativos… Não se pode viver na infâmia sem alimentar a raiva. Tenhamos raiva. O que se precisa é um Pearl Harbor, unificado e unificante, uma espécie da fúria americana cor de sangue”. Purple american fury.
Ora, todos sabem qual foi a resposta ao Pearl Harbor “original”. Purple American fury. Naqueles anos 1940, os americanos estavam divididos com relação a declarar guerra ao Eixo. O ataque de surpresa a Pearl Harbor mudou significativamente a opinião pública. Até hoje se especula em que medida o ataque foi mesmo uma surpresa. Há mesmo quem diga que Roosevelt recebeu mensagem do governo japonês com a declaração de guerra, vinte e quatro horas antes do bombardeio da base.
O 11 de Setembro tem algo de parecido. Na origem e nos desdobramentos.
Um cartaz logo surgiu na mídia – Tio Sam apontando o dedaço e ameaçando “Bin Laden, procurado vivo ou morto”. Espalhafato não iria faltar. Bush II apressou-se em fazer uma ameaça um pouco similar àquela que, agora em 2018, um desequilibrado fez aos moradores da favela da Rocinha, no Rio de Janeiro: entreguem-me o bandido ou bombardeio o morro. Bush, como o personagem de quadrinhos, tinha a força – e resolveu pulverizar o Afeganistão, já que nem sombra de Bin Laden conseguia ver. Diga-se, para o bem da justiça, que era duvidoso que pretendesse mesmo a cabeça do saudita. As ligações antigas ainda ressoam no rancho do Texas – Osama, o anjo do mal, já caçara passarinhos com o jovem Bush. E tinham negócios em comum. Veremos o que foram e são, no próximo capitulo desta série.
Mas a guerra foi um passo que esperou o momento. Aparentemente, a decisão estava definida no começo de 2002, mas só foi anunciada no final. O porta-voz da presidência, para espanto (ou não) dos presentes afirmou: “Por uma questão de marketing, não se lança um novo produto em agosto”. Um novo produto: the new american war.
Antes de definir o front externo, com diplomacia ou na ignorância, Bush pretendia fazer o dever de casa, o serviço interno. Logo depois do atentado, no final de 2011, Bush decretou aquele que talvez seja o seu AI-5, refeito e melhorado. O Patriotic Act e seus derivamos davam às forças de segurança o direito de revirar casas, corpos e mentes de quem julgasse suspeito. Com os meios e técnicas que julgassem convenientes. Como diria o Tim Maia: agora vale tudo mesmo. Assim, uma eventual carteira roubada em Times Square ou assalto em supermercado do Queens poderia ser transformado em assunto de segurança nacional, se, por acaso, alguém com nome árabe estivesse envolvido. E isto NÃO é uma hipótese de pesquisador acadêmico. Até os seriados de TV – como Law and Order e Chicago PD – começaram a mostrar episódios dessa natureza. Deu sopa, os federais entram em cena e “assumem o caso”. Eles assumem e os suspeitos somem, reaparecendo em Guantanamo ou em alguma ilha perto da Europa. Como se fossem anexos de email. Zipados.
Bush e seus asseclas sabiam o valor político de uma crise, sua utilidade para produzir resultados que em situações normais seriam rejeitados pelos cidadãos. Não se tratava apenas de aumentar seus índices de aprovação. Os homens de preto na Casa Branca perceberam que podiam fazer aquilo que queriam, desde que apresentado como indispensável para a Guerra contra o Terror, a “new american war” anunciada pelas cadeias de TV.
Assim, a comparação com o Pearl Harbor tem algum sentido, mas é pálido. Bush inovou e ampliou. Pearl Harbor foi seguido da Purple American Fury nas ilhas do império nipônico. Mas também teve seu uso interno – o confinamento de imigrantes japoneses e descendentes em campos de concentração na Califórnia, por exemplo. Bush quis mais, bem mais – e esse talvez tenha sido o significado mais duradouro e útil (para ele) do atentado.
Sim, o ataque permitiu uma injeção de energia a um governo em queda acelerada de popularidade. Querendo ou não, Osama ajudava o velho amigo. Nas vésperas do evento, a aprovação de Bush estava próxima dos 50%. Um mês depois, superava os 90%. O “presidente da guerra” estava em alta.
Assim, não é preciso adotar qualquer teoria da conspiração para saber o que derivou dos eventos – não do que os motivou, algo que depende da paranoia (ou conhecimento) de cada um. E o que resultou foi um achado da turma de Bush II: a invenção de um 11 de setembro permanente, uma espécie de mandato James Bond ampliado: licença para matar, aqui, ali, acolá, ontem, hoje, amanhã. A saga continua.